
O filósofo Jean-Luc Nancy escreveu que «não existe espiritualidade senão como tensão corporal» e, se isto é verdade, então o cinema, a arte do visível, do sensorial, do corpo encenado, revela-se, surpreendentemente, uma linguagem adequada para contar a espiritualidade e a mística dos corpos.
Durante séculos, o corpo foi para a espiritualidade cristã um campo de tensão, ou até um obstáculo: frágil sede do pecado, lugar do desejo, barreira a ser superada para aceder à dimensão do divino. Mas na vida de muitas místicas esta visão inverte-se. O corpo torna-se o instrumento privilegiado da revelação, o veículo através do qual Deus se manifesta. É o próprio corpo, na sua vulnerabilidade e no seu excesso, que se torna espaço sagrado.
Representar a experiência mística, contudo, não é tarefa fácil. A mística escapa à linguagem comum e, por sua natureza, excede a forma: é visão, silêncio, vazio. Mas também aqui, neste contínuo fracasso da palavra, o cinema encontra um terreno fértil: através do rosto, do ritmo, da luz, do tempo suspenso, pode evocar o que não consegue mostrar.
Paul Schrader, o encenador de Taxi Driver, no seu livro Transcendental Style in Film, descreveu como realizadores tais como Dreyer, Bresson e Ozu fizeram do estilo a porta através da qual sugerir o invisível: eliminando o supérfluo, abrandando a ação, tornando o tempo uma experiência interior. Uma forma de ascetismo estético que se torna, para o espectador, uma experiência quase contemplativa.
No entanto, acontece também o contrário: o sagrado entra no cinema através do excesso, do conflito, da carne. Em Benedetta (2021), filme recente do “escandaloso” Paul Verhoeven e inspirado na figura histórica da monja Benedetta Carlini, as visões divinas alternam-se com experiências sensuais e a santidade confunde-se com o poder e a transgressão. O filme, controverso e deliberadamente ambíguo, encena a espiritualidade como um corpo que arde e sangra, desafiando qualquer distinção tranquilizadora entre fé e loucura. O sagrado, no cinema, pode inquietar, escandalizar, até seduzir.
Entre as figuras mais representadas e discutidas no grande ecrã está certamente a de Joana d’Arc. Símbolo de pureza e rebelião, de obediência e subversão, a santa guerreira atravessou o cinema do século XX, encarnando as tensões da época. Em La passion de Jeanne d’Arc (1928), Dreyer filma o rosto de Renée Falconetti com primeiros planos nus e pungentes: a santidade está escrita na carne, no sofrimento mudo, na verdade que transparece dos olhos. Em Giovanna D’Arco (1999), de Luc Besson, Joana é, ao contrário, uma jovem perturbada, dividida entre a voz divina e a realidade. Combatente, profeta, mulher de ação, mais do que de silêncios.
Se no rosto martirizado de Falconetti o cinema encontra o seu ícone místico e não há necessidade de efeitos ou milagres, é porque Dreyer filma a espiritualidade sem mediações, através da exposição pura do corpo como lugar sagrado. Na Joana de Besson, o corpo é visto como um campo de tensão contraditória e oscila entre dois polos: de um lado, a santa guerreira, inspirada por Deus; do outro, a jovem alucinada e vítima do seu tempo.
Uma Joana representada de forma mais hagiográfica, ao contrário, é a encarnada por Ingrid Bergman em Joana D’Arc, realizado por Victor Fleming (1948). O cinema clássico de Hollywood prefere uma narrativa equilibrada, na qual a força do misticismo e do corpo não é enfatizada, em favor de uma biografia com uma encenação simples e rigorosa, que, contudo, não consegue dar a dimensão plena da profundidade da figura retratada.
Outro filme de estrutura mais tradicional, mas decididamente mais bem-sucedido na representação do misticismo, é Thérèse (1986), de Alain Cavalier. O filme conta a curta vida de Santa Teresa de Lisieux sem cair na retórica religiosa. Cavalier adota uma encenação essencial: cenários reduzidos ao mínimo, luzes baixas, ambientes fechados e silenciosos. A forma está ao serviço da substância: não se trata de mostrar milagres ou êxtases espetaculares, mas de fazer emergir, com delicadeza, a relação íntima e comovedora que Teresa mantém com Deus através do quotidiano, da doença, da fragilidade do corpo.
O realizador constrói a narrativa como uma liturgia íntima. Os gestos da jovem carmelita, como lavar um copo, recitar uma oração ou escrever uma carta, adquirem progressivamente um valor sacramental. A experiência espiritual de Teresa expressa-se através da paciência, da obediência e da ternura que reserva às suas irmãs. O corpo, neste contexto, é objeto de ascetismo, mas também espaço de doação: Teresa consome-se, literalmente, na doença e transforma o sofrimento num ato de amor radical.
O filme conta a mística não como um espetáculo do excecional, mas como uma experiência diária, oculta, encarnada. Teresa não tem visões, não recebe estigmas, não prega, mas simplesmente ama, serve, oferece. O filme convida-nos a redescobrir o poder espiritual da fraqueza, a fé como forma extrema de abandono e confiança.
O corpo místico é também um lugar de poder. As místicas medievais, de Angela de Foligno a Catarina de Sena, de Teresa de Ávila a Verónica Giuliani, viveram experiências espirituais que passam pelo corpo: visões, êxtases, estigmas, jejuns, automortificações. Não se trata apenas de experiências interiores, mas de verdadeiras linguagens encarnadas. Como foi escrito em vários estudos, para muitas mulheres medievais, o corpo era o único instrumento disponível para expressar a sua relação com Deus, num contexto que lhes negava a palavra pública e o poder eclesiástico. O corpo, então, torna-se não só templo, mas voz, gesto, resistência.
Esta dimensão profunda e subversiva da mística feminina está no centro do filme A Sétima Sala (1995), de Márta Mészáros, dedicado à figura de Edith Stein, filósofa judia convertida ao catolicismo, carmelita e por fim mártir em Auschwitz, onde morrerá. O título alude explicitamente à obra de Teresa de Ávila, O castelo interior, onde a alma, atravessando sete salas, chega à união mística com Deus. Na sétima sala, que para Edith é o campo de concentração, consuma-se não só o fim da vida, mas também o ato mais elevado de oferta. Mészáros filma com pudor e rigor a espiritualidade encarnada de Edith: o silêncio, a meiguice, a dedicação. Não há espetáculo nem milagre, mas uma fé que passa pelo corpo e resiste na dor.
E é outra mulher realizadora que nos oferece mais um intenso relato de misticismo feminino. Trata-se de Margarethe von Trotta que, em Vision, de 2009, encena a vida de Santa Hildegarda de Bingen, monja beneditina, mística, curandeira, filósofa e musicista do século XII. A realizadora alemã, sempre atenta às biografias de mulheres “heréticas” e fora do cânone, retrata com rigor histórico e profundidade emocional a complexidade de uma figura capaz de conjugar fé, conhecimento e autoridade num mundo dominado pelos homens.
O filme evita deliberadamente os efeitos especiais e a espetacularização das visões para se concentrar nos efeitos disruptivos que elas produzem na comunidade e nas instituições eclesiásticas. A visão, no filme, não é, portanto, uma imagem a ser mostrada, mas uma experiência a ser encarnada: no rosto absorto de Hildegarda, na sua voz firme que pede audiência a bispos e abades, nos seus gestos concretos. Também o corpo, na narrativa de von Trotta, não é negado: é, pelo contrário, lugar de mediação mística, instrumento de luta e de cura. Hildegarda, frequentemente acamada por doenças repentinas, reage com ferocidade e criatividade, transformando o sofrimento em impulso propulsor para a missão.
É precisamente esta imagem de um corpo silencioso e oferecido que nos remete, de forma surpreendente, para a obra barroca talvez mais famosa da mística esculpida: A Êxtase de Santa Teresa, de Gian Lorenzo Bernini. Ali, naquela carne representada que se eleva e se abandona ao golpe do anjo, o corpo é expressão de uma experiência espiritual tão intensa que parece erótica. «A doçura dolorosa desse contacto era tão grande que eu não pudera desejar que cessasse», escreveu Teresa no seu diário. Alguns observadores, como o Marquês de Sade, notaram com ironia que «custa acreditar que se trata de uma santa». No entanto, é precisamente nessa contradição, entre êxtase e desejo, entre espírito e carne, que se joga o mistério da mística feminina.
Esta consciência atravessa também a reflexão de Andrej Tarkovskij, que nunca colocou diretamente em cena figuras de santas ou místicas. No entanto, o seu cinema é permeado por uma espiritualidade profunda, por uma tensão em direção ao absoluto que se manifesta na própria matéria da imagem. Em Esculpir o Tempo, ele escreve: «A arte é uma oração. É um ato de fé. É uma tentativa de entrar em contato com o absoluto». Para Tarkovski, o tempo esculpido pelas imagens é como a alma que se deixa transformar pela graça. As suas personagens atravessam a dor, o vazio, a espera: são peregrinos do sentido, corpos oferecidos ao desconhecido. «A verdadeira imagem é aquela que encerra um segredo», escreve ele. E, nesse sentido, mesmo sem santos nem êxtases, o seu cinema é místico.
O cinema, arte da luz projetada na escuridão, é talvez, portanto, a linguagem mais próxima da experiência mística. Não porque possa representar o divino, mas porque sabe evocá-lo. Tal como as santas que falavam através da carne, também o cinema fala através do corpo, da luz, do rosto. E deixa o espectador aproximar-se, em silêncio, do mistério. Mesmo através de um enquadramento.
Paola Dalla Torre
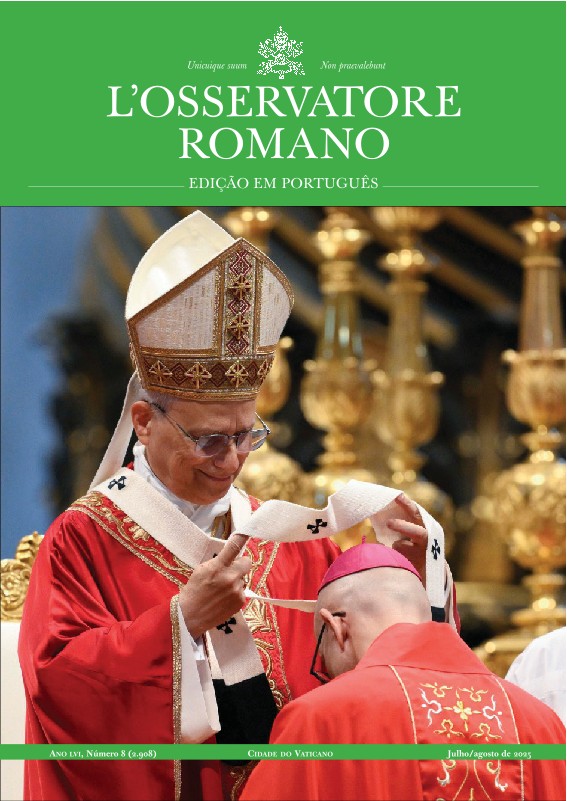



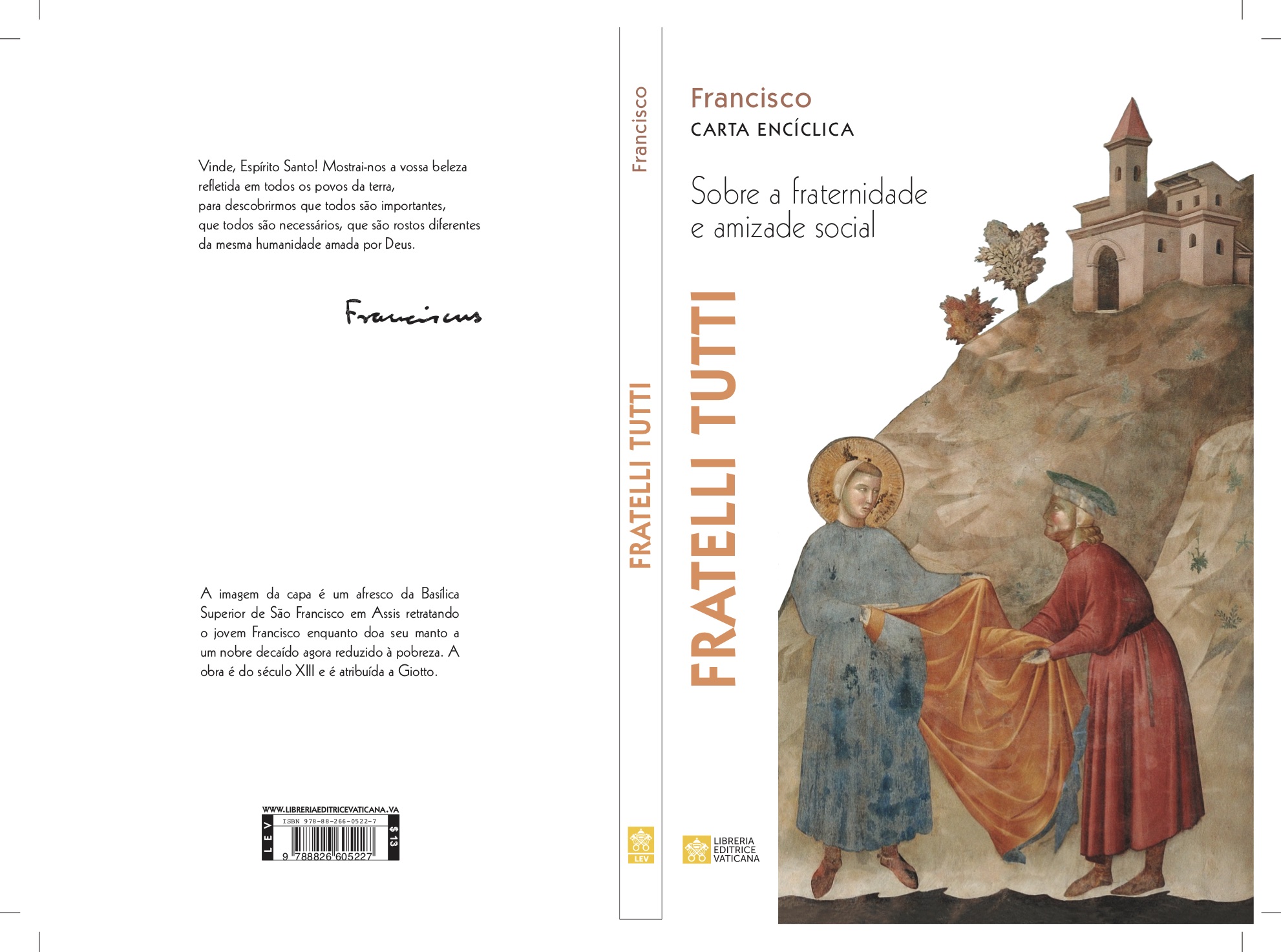 Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti