
Considerando que a contemporaneidade é um conceito bastante efémero, para desenvolver uma reflexão sobre ela é necessário estabelecer um ponto de partida. Assim, para uma excursão sobre a dimensão sagrada da maternidade no cinema atual, é interessante partir da 75ª Mostra de Veneza (2018), onde concorrem Roma, de Alfonso Cuarón (que ganharia o Leão de Ouro e três Óscares), e Suspiria, de Luca Guadagnino (remake do filme homónimo de Dario Argento). Trata-se de dois filmes antagónicos no papel, mas interligados pela força disruptiva com que exploram (desenvolvendo-se em direções opostas) a ideia de “mãe espiritual”.
Desde os primórdios da civilização até hoje, o âmbito da maternidade permanece ligado ao da sacralidade. A ciência investigou todo o processo nos mínimos detalhes, mas a centelha “inefável” da qual surge outra vida continua a suscitar infinita admiração e (inútil negar) profundo medo. Essa duplicidade reflete-se na própria perceção que cada um tem da sua mãe. Citando Carl Gustav Jung, o arquétipo da figura materna «é projetado na mãe concreta, atribuindo-lhe poder e fascínio. O protótipo de mãe herdado pela criança influencia de forma determinante a ideia que ela formará da própria mãe». E, uma vez que cada arquétipo apresenta aspetos de luz e de sombra, a imagem materna pode manifestar-se tanto de forma resplandecente (ligada a uma esfera divina de sabedoria, ternura, generosidade e fecundidade), como de forma tenebrosa (que origina a figura da “bruxa” ou “mater terribilis”). Uma vez que a dimensão sagrada humana está diretamente relacionada com a dimensão arquetípica, a ideia de maternidade espiritual é tanto o fulcro de Roma (onde a humilde empregada doméstica Cleo se torna o eixo afetivo da rica família da qual se ocupa) quanto de Suspiria (em que a protagonista, repudiada pela mãe e desiludida pela alternativa esotérica, torna-se ela própria a suprema Mater, abraçando um matriarcado pagão oculto ao olhar masculino).
Para além do género de terror (onde, desde sempre, prospera a angústia gestacional), o cinema contemporâneo, sobretudo feminino, é particularmente propenso a rejeitar o que define como «a falsa propaganda sobre as alegrias da maternidade», explorando os seus lados mais controversos, desde os filhos da violência (tema agora também debatido por autoras não ocidentais, como Meryem Benm’Barek em Sofia, 2018) à depressão pós-parto (basta pensar nos recentes Night Bitch, de Marielle Heller, 2024, e Die My Love, de Lynne Ramsay, 2025), da dor pela perda de um filho (Pieces of a Woman, de Kornél Mundruczó, 2020) ao desejo obsessivo de ter um (Lamb, de Valdimar Jóhannsson, 2021, Os filhos dos outros, de Rebecca Zlotowski, 2022), até à recusa em levar a gravidez adiante (La scelta di Anne, de Audrey Diwan, 2021).
Isso leva-nos a questionar se, no grande ecrã atual, ainda há espaço para expressar um conceito de maternidade que vá além do trauma (ou da beatificação acrítica) e a resposta, surpreendentemente, é sim. Na verdade, nos últimos anos, parece que a sétima arte está a redescobrir a sua profunda espiritualidade. Capazes de amar sem reservas filhos adotados ou menos felizardos (Vittoria, de Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, C’era una volta mia madre, de Ken Scott, 2025), as novas mães do cinema não se limitam a questionar as convenções sociais (Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, 2021, As boas estrelas, de Hirokazu Kore’eda, 2022, Holy Rosita, de Wannes Destoop, 2024), mas chegam a transcender os limites da própria vida, entendida tanto no sentido existencial (Piccolo corpo, de Laura Samani, 2021, The Eternal Daughter, de Joanna Hogg, 2022), como espaciais e temporais (Petite Maman, de Céline Sciamma, 2021, Everything Everywhere All At Once, de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, 2022). E se do olhar compassivo de Maura Delpero (já autora de Maternal, 2019) era quase legítimo esperar uma reflexão com implicações místicas como Vermiglio (2024), levante a mão quem esperava que a cirúrgica Julia Ducournau passasse do híbrido feto-máquina que devasta o ventre feminino (Titane, 2021) para a apologia do abraço materno como último baluarte contra a dissolução do mundo circundante (Alpha, 2025).
Talvez porque vivemos em tempos de solidão desesperada e, como sugeriu o Papa Francisco, as mães (de sangue e de coração) continuam a ser o antídoto mais forte contra o alastramento do individualismo egoísta.
Angela Bosetto
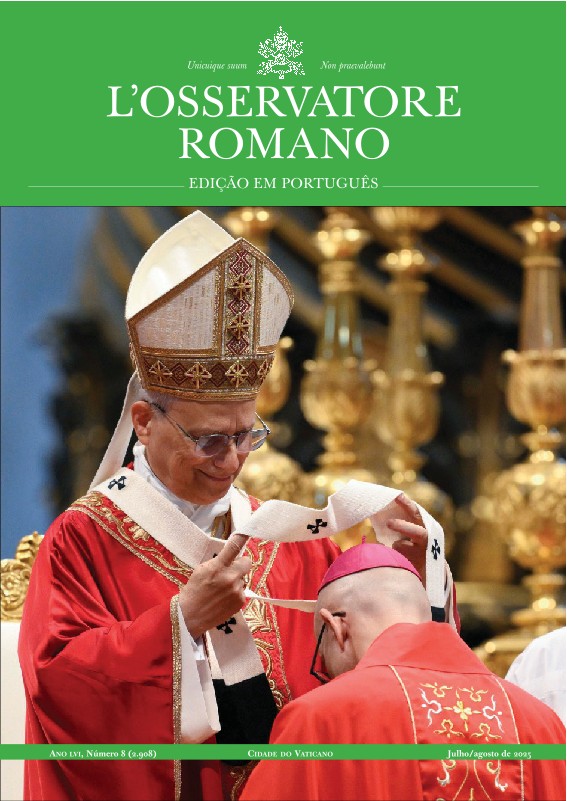



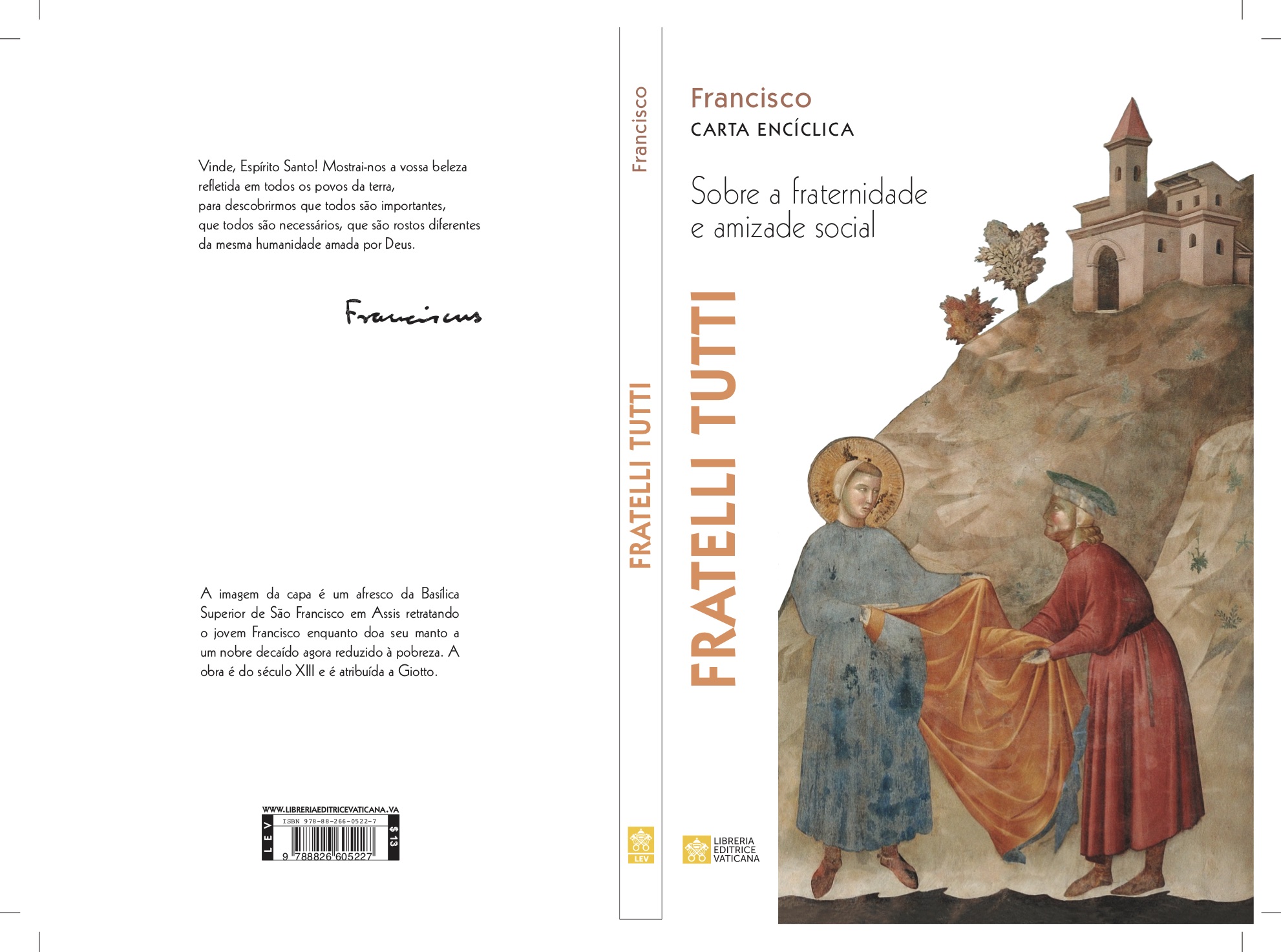 Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti