
Andrea Tornielli
Javier Cercas construiu todo o seu romance-verdade de quase quinhentas páginas, “O louco de Deus no fim do mundo”, dedicado à viagem do Papa Francisco na Mongólia, em torno de uma única questão sobre a ressurreição da carne. Ele, um escritor declaradamente agnóstico e anticlerical, foi movido por um ato de amor pela mãe doente e pela certeza por ela demonstrada de que voltaria a ver no Céu o marido morto há anos. O leitor tem de fazer uma longa e emocionante viagem antes de chegar, como para o final esperado de um romance de mistério, à resposta.
Na vigília dos três dias mais importantes para os cristãos de todo o mundo, durante os quais se recorda o acontecimento que está na origem da nossa fé: a paixão, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré ocorrida por volta do ano 30 numa província remota e marginal do império romano. É útil parar para refletir fazendo nossa aquela pergunta, para evitar que as notícias desconcertantes e as mil preocupações quotidianas nos distraiam do cerne do acontecimento.
Os evangelhos canónicos não foram pensados teoricamente séculos mais tarde pelos autores de uma ficção devocional ou por propagandistas possuídos de uma ideologia religiosa, mas baseiam-se em testemunhos oculares: representam um relato pobre de factos, estão muito longe do “milagrismo” e não descrevem o momento da ressurreição. Não narram o que aconteceu dentro do sepulcro de José de Arimateia, “emprestado” para a sepultura do Nazareno. Contam apenas o que é humanamente possível contar e o que foi testemunhado: aquele Homem, o único na história da humanidade a definir-se “caminho, verdade e vida”, reivindicando uma natureza divina, foi barbaramente pendurado no infamante suplício da cruz como um malfeitor, e estava morto. O seu corpo tinha sido deposto à pressa e com igual rapidez sepultado. Os seus amigos, exceto um, João, tinham-no deixado sozinho no Calvário, onde mais corajosas do que eles se tinham demonstrado as mulheres. Então, na madrugada do terceiro dia, enquanto os apóstolos permaneciam aterrorizados e fechados à chave no cenáculo, as mulheres tinham feito uma descoberta chocante: o sepulcro vazio e Jesus vivo.
A historicidade do relato da sepultura, assim como a da narração do túmulo vazio, já não é posta em causa pelos estudiosos sérios: porque deveria alguém ter inventado a acusação do roubo do corpo se o túmulo não estivesse vazio? Mas a fé de Maria de Magdala, de Pedro e João, de Tomé e dos outros apóstolos não se baseia, nem nunca se baseou, nos sinais, ainda que eloquentes, do sepulcro vazio e dos panos intactos. Não basta uma ausência para dar origem a uma crença tão “louca” como a da ressurreição de um corpo que se pode tocar mas que, ao mesmo tempo, vive noutra dimensão e pode atravessar paredes. É verdade que João, olhando para os panos no sepulcro, «viu e acreditou», mas na origem da fé daqueles doze homens desorientados, e daquele pequeno grupo de mulheres que assistiam a mãe de Jesus debaixo da cruz, só pode ter estado uma presença muito mais chocante do que qualquer sinal. Aquele que estava morto e tinha sido sepultado voltou a viver. E elas viram-no, falaram com ele, tocaram-no, comeram com ele. Maria de Magdala e as outras mulheres foram as primeiras testemunhas.
Há um Big Bang na origem do cristianismo que é inexplicável com categorias sociológicas. O que pôde transformar um pequeno grupo de discípulos aterrorizados e desiludidos em incansáveis anunciadores da morte e ressurreição de Cristo, dispostos a testemunhar a todos o que tinham visto e a morrer como mártires para o contar? O que os moveu é atestado desde o início, nestas palavras de Paulo na primeira Carta aos Coríntios: «Transmiti-vos, em primeiro lugar, o que eu mesmo havia recebido: Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois, apareceu a mais de quinhentos irmãos, de uma só vez, a maior parte dos quais ainda vive, enquanto alguns morreram. Depois, apareceu a Tiago, e, a seguir, a todos os apóstolos». Palavras que os estudiosos consideram não terem saído diretamente da pena do Apóstolo, mas retiradas de uma tradição anterior, que remonta aos anos Trinta do primeiro século da era cristã. Os evangelhos, cuja redação é sucessiva, concordam em todos os aspetos com este resumo do mistério pascal.
A estudiosa judaica Paula Fredriksen, professora emérita de Escrituras na Boston University, escreveu no livro “Jesus of Nazareth: King of the Jewish”: «Sei que nos seus termos o que viram foi Jesus ressuscitado. Isto é o que dizem os discípulos. Todas as provas históricas de que dispomos posteriormente atestam a sua convicção de que isto foi o que viram. Não estou a dizer que viram realmente Jesus ressuscitado. Eu não estava lá, não sei o que viram. Mas como historiadora sei que devem ter visto alguma coisa. A convicção dos discípulos de terem visto o Cristo ressuscitado... tem fundamentos históricos, factos conhecidos indubitavelmente desde a primeira comunidade depois da morte de Jesus».
O então patriarca de Veneza, Albino Luciani, observava numa homilia memorável na Páscoa de 1973: «Portanto a incredulidade inicial não foi apenas de Tomé, mas de todos os apóstolos, pessoas sãs, robustas, realistas, alérgicas a qualquer fenómeno de alucinação, que só se renderam perante a evidência dos factos. Com um tal material humano era também altamente improvável passar da ideia de um Cristo digno de reviver espiritualmente nos corações para a ideia de uma ressurreição corporal à força de reflexão e de entusiasmo. Aliás, em vez de entusiasmo, depois da morte de Cristo, nos apóstolos havia só desânimo e desilusão. Faltou depois o tempo: não é em quinze dias que um grupo forte de pessoas, não habituadas à especulação, muda em massa a mentalidade sem o apoio de provas sólidas!».
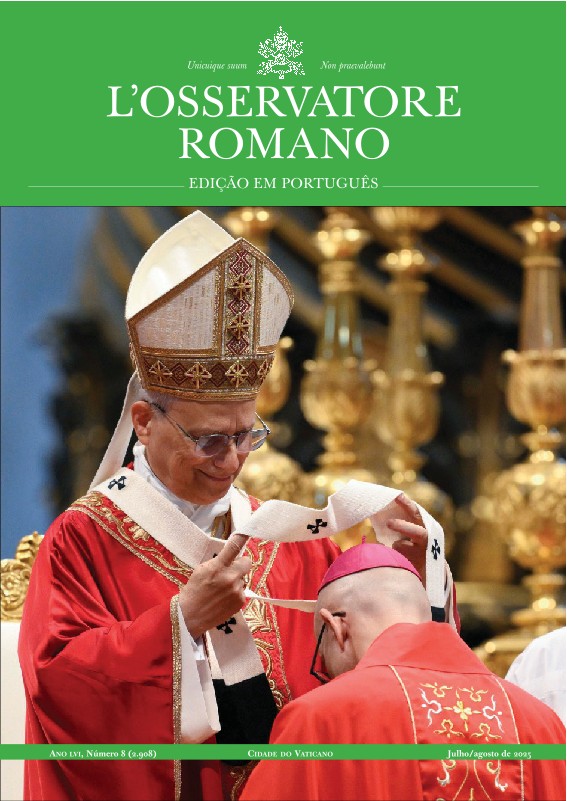



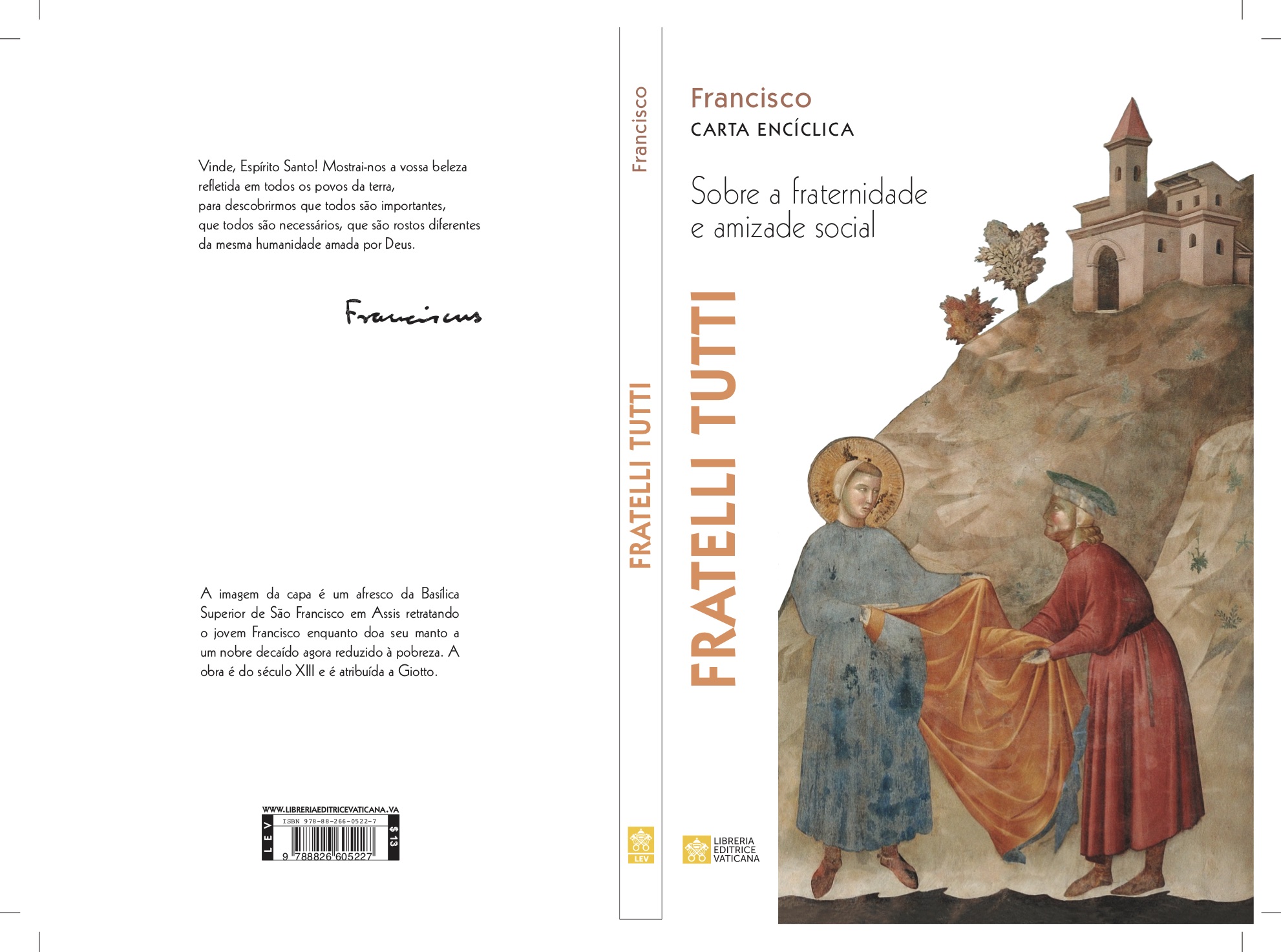 Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti