«Louca» é quem

«É entre a mulher que ela gostaria de ter gerado e eu que a Coisa se instalou. A minha mãe tinha-me induzido em erro e o seu trabalho tinha sido tão perfeito, tão profundo, que eu não tinha consciência disso, já não me apercebia disso». A Coisa, a doença mental.
Marie Cardinal, a grande escritora franco-argelina, contou-a no seu livro Palavras por dizer por a ter vivido. Anos de angústia, medos, forçada em casa por uma mãe que lhe impunha um colete de forças de convenções e renúncias para a comprimir no cânone da “burguesa perfeita”. Durante muito tempo uma vida de silêncio.
Marie Cardinal começa a encontrar as palavras quando já tem 33 anos, altura em que em 1961 – no amanhecer daqueles Sixties tão cheios de vontade de viver e de sonhos - foge de uma clínica psiquiátrica, ganha coragem e entra no gabinete de um psicanalista em Paris: le petit docteur que a salvará. Nenhum medicamento, nenhuma droga. Apenas as palavras para dizer la chose.
A loucura é algo que pode aprisionar uma existência. Marcá-la. E desde sempre foi, e continua a ser, usada como estigma para fazer calar, subjugar, silenciar as mulheres.
«Aquela louca», perdeu o juízo, dizem os mafiosos se uma mulher quebra a cumplicidade. Locas, malucas, eram chamadas as mães da Plaza de Mayo, que eram apenas mulheres doidas de amor pelos filhos desaparecidos, desaparecidos nas prisões da ditadura argentina dos anos Setenta.
Até a adolescente analfabeta Bernadette Soubirous foi inicialmente acusada de loucura e ameaçada; ninguém acreditava nela quando contava as suas visões da Virgem Maria na gruta de Lourdes.
Mas a loucura foi, é, também um cume de liberdade escolhido pelas mulheres para serem elas próprias, um instrumento para escapar ao vínculo social de não poderem falar, ainda mais em público. Uma alternativa à convenção. «De todas as coisas que as mulheres podem fazer no mundo, falar continua a ser considerada a mais subversiva», escreve Michela Murgia no seu livro Stai zitta (Cala-te).
Falamos da loucura feminina como rebelião, desafio à normalidade; como “técnica” adotada por necessidade por mulheres sábias de todos os tempos, artistas, pensadoras, santas. Para escapar aos esquemas. Para desmascarar a hipocrisia do poder, da sociedade, até da Igreja.
«Não é preciso muito, sabe, minha senhora, não se alarme! Não é preciso nada para se fazer de louca, acredite em mim! Eu ensino-lhe como se faz. Basta que se ponha a gritar a verdade na cara de toda a gente. Ninguém acredita, e todos a consideram louca!» (Luigi Pirandello, Il berretto a sonagli (A boina de guizos).
Mesmo na origem do feminismo as mulheres eram consideradas malucas. As sufragistas eram, de vez em quando, histéricas, desvairadas, no sentido de desequilibradas e um pouco anárquicas, porque se moviam reivindicando liberdade, autonomia, igualdade.
Quando em 1975 é publicado Palavras para o dizer, de Marie Cardinal, cruza-se imediatamente com a irrupção na cena pública da chamada segunda vaga dos movimentos feministas, após a era das sufragistas, e com o debate sobre a reforma da psiquiatria. Neste fervor geral, a relação entre as mulheres e a “loucura” começa a ser explorada na sua dimensão social. Gradualmente, sobressai a ligação entre o desconforto feminino, descartado como “loucura”, e a dificuldade de se adaptar a uma estrutura construída sobre a desigualdade de género. A loucura, nesta perspetiva, torna-se aquilo que Michel Focault define como um ato de extrema rebelião contra a alegada racionalidade dominante. Por isso isto assusta tanto os guardiões da ordem estabelecida e é tão duramente punida por eles.
Três anos antes de Marie Cardinal, a psicóloga Phyllis Chelser tinha escrito As mulheres e a loucura, uma investigação sobre as doenças mentais e o contexto dos Estados Unidos no início do século XX, onde o rótulo de “louca” era sistematicamente utilizado para aprisionar aquelas que eram consideradas demasiado livres e independentes. Mulheres criativas, bizarras, fora dos esquemas asfixiantes da época para as quais a escuta não era prevista: era mais fácil confiná-las fora da comunidade e “curá-las”. «O deslize para a patologia psíquica é o preço pago por várias mulheres para escaparem aos cânones convencionais previstos para elas», afirma Wanda Tommasi, professora de Filosofia na Universidade de Verona e membro da comunidade filosófica feminina Diotima, especializada no estudo do pensamento da diferença sexual.
Na sua obra La ragione alla prova della follia (A razão à prova da loucura), editado pela Liguori, analisa as vicissitudes dos autores que levaram a razão ao limite da loucura na tentativa de apreender, com a escrita, aquela matéria obscura que, no entanto, é parte integrante da condição humana. «Um caso significativo é o de Helene von Druskowitz, filósofa, escritora e crítica musical austríaca, internada num manicómio durante quase trinta anos, até à morte em 1918, por causa da sua misandria, basicamente o ódio aos homens. Helene não era de forma alguma louca. Apenas exprimia um pensamento muito radical: culpava os homens pela violência da história e apoiava a separação entre os sexos».
Desde a Antiguidade, o género feminino foi considerado mais propenso à desordem mental. Não a loucura nobre, resultado da comunicação direta com as divindades, como a telestiké descrita por Platão no Fedro, um dos caminhos para a felicidade. Ekstasis é como lhe chama o antropólogo Gilbert Rouget: uma alienação da consciência, alcançada em silêncio, solidão e imobilidade, e expressa através de alucinações, capazes de fazer a mente aceder a conhecimentos mais profundos.
E a loucura como possessão era a das chamadas bruxas da Idade Média e, sobretudo, da idade moderna. «Teria sido melhor se elas tivessem sido consideradas loucas, ou ainda, se tivessem sido consideradas capazes, como de facto eram, de transitar livremente entre o sonho e a vigília, entre a fantasia e a realidade, entre o visível e o invisível», comenta Wanda Tommasi.
Em claro-escuro está a posição da Igreja, durante séculos a única responsável pelas curas.
Por um lado: a loucura lida como uma possessão da qual era preciso distanciar-se, que devia ser afastada; e, por conseguinte, para aqueles que não se enquadravam nos cânones, que se exaltavam, que puxavam para si Deus, o terrível suplício da fogueira para impedir que a alma possuída se afastasse do corpo “doente”.
Por outro: a santa loucura como manifestação autêntica de radicalismo evangélico. Eis então as visões, os êxtases, as profecias, os fenómenos considerados sobrenaturais que enchiam de esperança e espanto as mentes dos fiéis.
Um pouco bruxa, um pouco louca é a heroína de França Joana d’Arc queimada com apenas dezanove anos para apagar o seu fogo reformador, depois reabilitada e, seis séculos mais tarde, canonizada.
E o que dizer dos maus momentos vividos pelas beguinas, mulheres dedicadas à oração e às obras de caridade, muitas vezes poetisas e escritoras, que deram vida a associações religiosas fora da estrutura hierárquica da Igreja católica? E as cátaras, que preferiam chamar-se simplesmente “boas mulheres”, acusadas de heresia?
Na França do século XIV, a beguina Marguerite Porete, religiosa e letrada, acabou na fogueira por ter recusado retirar o seu livro O espelho das almas simples, uma obra sobre a espiritualidade cristã.
No século XXI, o sofrimento psíquico mais comum nas mulheres é a depressão: afeta-as duas vezes mais do que aos homens. «São mais propensas a reagir a um acontecimento doloroso, como uma perda ou um abandono», sublinha Wanda Tommasi, «orientando a sua raiva contra si próprias». Neste comportamento, mais uma vez, é possível vislumbrar uma variável social: a expressão de emoções negativas fortes, como a cólera, é pouco encorajada nos modelos educativos que se baseiam nos cânones tradicionais de feminilidade. «Além disso, as mulheres» diz a especialista «valorizam muito as relações e, para não as comprometer, estão dispostas a calar-se para agradar àqueles a quem estão afetivamente ligadas». «Um fio vermelho une os vários rostos que, no tempo e no espaço, encarnaram a “loucura” feminina: dar forma a um desejo que transborda das medidas e das mediações masculinas, evitar os estereótipos mutilantes forjados pelos outros e contar-se a partir de si própria, fazendo ressoar a sua voz autêntica. Tanto os grupos de autoconsciência como a prática do inconsciente, a partir dos anos 70, permitiram que as mulheres descobrissem que a sensação de inadequação sentida por uma única mulher era também partilhada por muitas outras».
«Quantas, depois, de Marie Cardinal à poetisa americana Sylvia Plath, “encontraram as palavras” para relatar o desconforto psíquico que sofreram, reelaborando-o sob forma literária, transformaram o estigma da loucura, com o qual tinham sido catalogadas, numa capacidade criativa», conclui Wanda Tommasi. «Desta forma, mostraram que a expressão e a partilha das experiências mais dolorosas podiam ser salvíficas para elas próprias e para quantas se podiam reconhecer nelas».
As muitas, demasiadas vidas de mulheres em que ecoa o verso de Alda Merini: «A minha vida foi bela porque paguei caro por ela».
LUCIA CAPUZZI
Jornalista de «Avvenire»
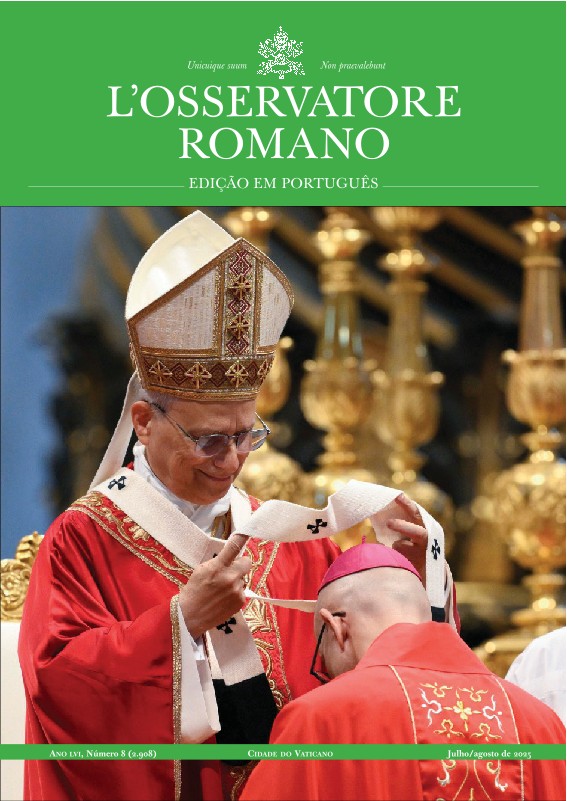



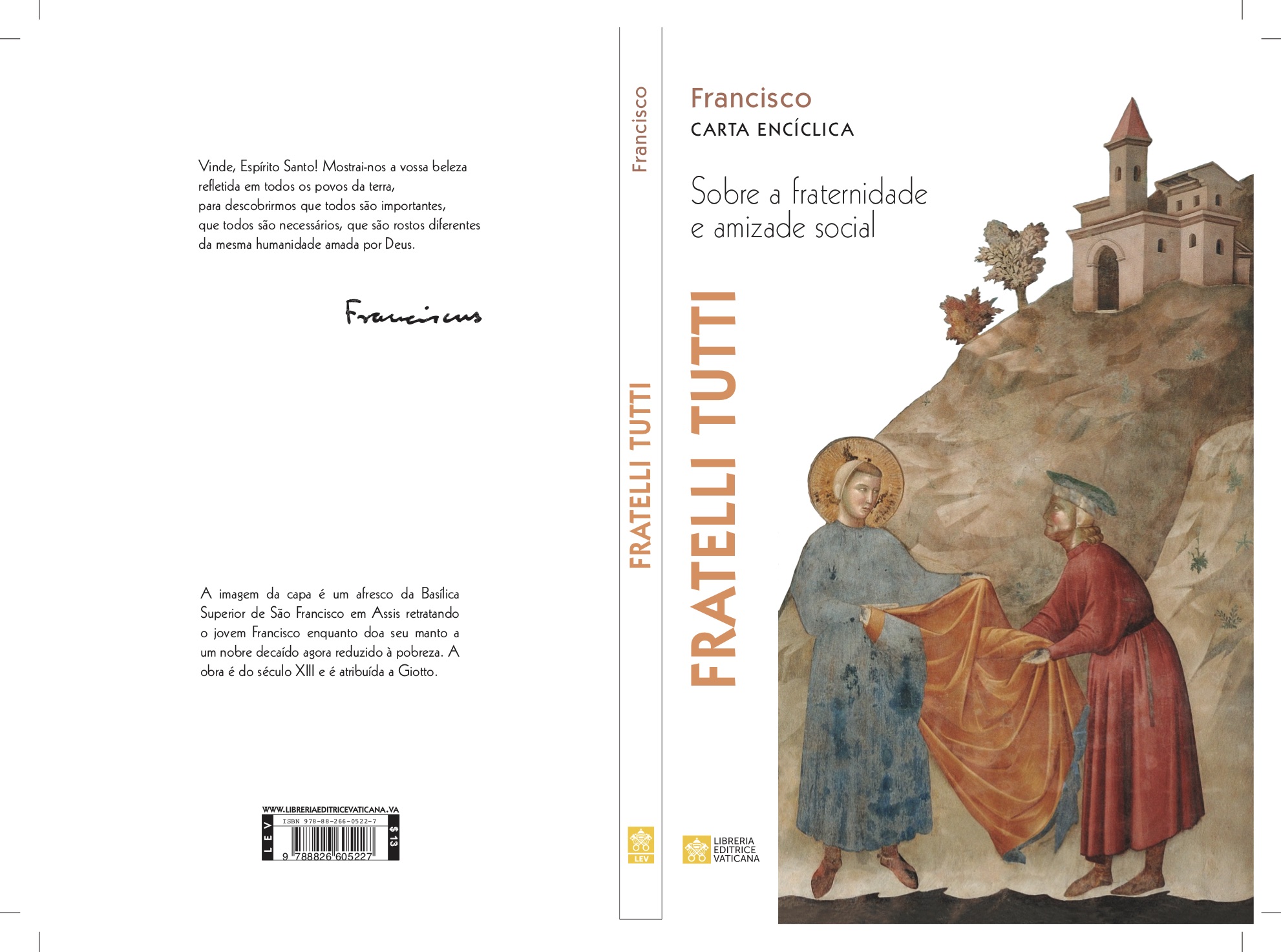 Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti