
Kurt Koch
Prefeito do Dicastério para a promoção
da unidade dos cristãos
Em pleno Jubileu 2025 — Ano Santo proclamado pelo Papa Francisco e destinado a reavivar a esperança cristã — celebrar-se-á também o 1700º aniversário do primeiro Concílio Ecuménico da história da Igreja, realizado em Niceia em 325. Este aniversário tem importantes dimensões ecuménicas, discerníveis já pelo facto de o Santo Padre ter expressado o desejo de se deslocar a Niceia para celebrar esta comemoração juntamente com o Patriarca ecuménico, Bartolomeu i. Também a Comissão “Fé e Constituição” do Conselho Ecuménico das Igrejas se está a preparar para esta celebração.
A profissão comum
da fé cristã
De significado ecuménico são, antes de mais, as questões doutrinais que o Concílio abordou, resumidas na “Declaração dos 318 Padres”. Com ela, os Padres professaram a sua fé «num só Deus, Pai omnipotente, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E num só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado, unigénito, pelo Pai, ou seja pela substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, da mesma substância do Pai, mediante o qual todas as coisas foram feitas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra». E na carta do Sínodo aos Egípcios, os Padres anunciaram que o primeiro verdadeiro objeto de estudo era o facto de que Ário e os seus seguidores fossem inimigos da fé e contrários à lei, e afirmaram por isso que tinham «decidido unanimemente condenar com anátema a sua doutrina contrária à fé, as suas afirmações e as suas descrições blasfemas, com as quais ultrajava o Filho de Deus».
Estas afirmações traçam o contexto do credo formulado pelo Concílio, que professa a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, «consubstancial ao Pai». O pano de fundo histórico é o de uma violenta disputa que eclodiu no cristianismo da época, especialmente na parte oriental do império romano; daí emerge que, no início do século iv, a questão cristológica tinha-se tornado o problema crucial do monoteísmo cristão. A controvérsia girava principalmente em torno da questão de como conciliar a profissão de fé cristã em Jesus Cristo como Filho de Deus com a fé igualmente cristã num único Deus, no sentido da confissão monoteísta.
O teólogo alexandrino Ário, em particular, preconizava um monoteísmo rigoroso, de acordo com o pensamento filosófico da época e, para manter um monoteísmo de tal modo rígido, excluía Jesus Cristo do conceito de Deus. Nesta perspetiva, Cristo não podia ser «Filho de Deus» no verdadeiro sentido da palavra, mas apenas um ser intermédio utilizado por Deus para a criação do mundo e para a sua relação com os homens. Os Padres do Concílio rejeitaram este modelo de monoteísmo filosófico rígido difundido por Ário, opondo-lhe a crença segundo a qual Jesus Cristo, como Filho de Deus, é «consubstancial ao Pai».
Com a palavra “homoousios”, os Padres conciliares queriam exprimir o mistério mais profundo de Jesus Cristo, que a Sagrada Escritura testemunha como o Filho fiel do Pai, ao qual está intimamente unido na oração. De facto, é na oração que Jesus aparece mais claramente como Filho do Pai celeste. No Novo Testamento é sobretudo o evangelista Lucas que apresenta Jesus na sua vida terrena como o Filho de Deus em constante oração, que tem como foco existencial o diálogo com o Pai celeste e vive com Ele em profunda unidade. Jesus viveu tanto na oração e da oração que toda a sua vida e a sua obra podem ser definidas como uma única oração. Sem esta atitude orante, não se pode, de facto, compreender a figura de Jesus Cristo. Foi precisamente isto que intuíram com sensibilidade os Padres do Concílio de Niceia, usando o termo “homoousios” para oferecer a interpretação correta da oração de Jesus e a leitura mais profunda da sua vida e da sua morte, marcadas em cada momento pelo diálogo com o Pai.
Com a palavra “homoousios”, o Concílio de Niceia não “helenizou” de modo algum a fé bíblica, submetendo-a a uma filosofia estranha, mas captou o incomparavelmente novo que se tinha tornado visível na oração de Jesus dirigida ao Pai. Foi antes Ário que conformou a fé cristã ao pensamento filosófico de então, enquanto o Concílio de Niceia retomou a filosofia da época para exprimir o que era caraterístico da fé cristã. No credo de Niceia, o Concílio exprime-se novamente como Pedro e com Pedro em Cesareia de Filipe: «Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo» (Mt 16, 16).
O credo cristológico do Concílio tornou-se a base da fé cristã comum. O Concílio reveste-se de uma grande importância, sobretudo porque teve lugar numa época em que a cristandade ainda não estava dilacerada pelas numerosas divisões que se produziriam mais tarde. O credo niceno é comum não só às Igrejas orientais, às Igrejas ortodoxas e à Igreja católica, mas também às Comunidades eclesiais nascidas da Reforma; por isso, a sua relevância ecuménica não deve ser subestimada. De facto, para restaurar a unidade da Igreja, é necessário que haja acordo sobre o conteúdo essencial da fé, não só entre as Igrejas e as Comunidades eclesiais de hoje, mas também com a Igreja do passado e, em particular, com a sua origem apostólica. A unidade da Igreja baseia-se na fé apostólica, que no batismo é transmitida e confiada a cada novo membro do Corpo de Cristo.
O fundamento
do ecumenismo espiritual cristológico
Uma vez que a unidade só pode ser reencontrada na fé comum, a confissão cristológica do Concílio de Niceia revela-se o fundamento do ecumenismo espiritual. Isto é obviamente um pleonasmo. O ecumenismo cristão ou é espiritual ou não é ecumenismo. Eis o motivo pelo qual o Decreto sobre o ecumenismo do Concílio Vaticano ii define o ecumenismo espiritual como «a alma de todo o movimento ecuménico» (ur 8). Isto era já evidente nos primeiros tempos do movimento ecuménico, com a introdução da Semana de oração pela unidade dos cristãos, ela própria uma iniciativa ecuménica. O movimento ecuménico foi desde as suas origens um movimento de oração. Foi a oração pela unidade dos cristãos que abriu o caminho ao movimento ecuménico.
A centralidade da oração evidencia o facto de que o empenho ecuménico é, antes de mais, uma tarefa espiritual, baseada na convicção de que o Espírito Santo completará a obra ecuménica que iniciou e nos mostrará o caminho. Isto é particularmente verdadeiro quando o ecumenismo espiritual é concebido e implementado como ecumenismo cristológico, do qual o Concílio de Niceia representa um fundamento sólido. O coração do ecumenismo cristão reside, de facto, na conversão comum de todos os cristãos e das Igrejas a Jesus Cristo, no qual a unidade já nos foi dada. O ecumenismo cristão só pode progredir de forma credível se os cristãos regressarem juntos à fonte da fé, que só pode ser encontrada em Jesus Cristo, como professado pelos Padres conciliares em Niceia.
Deste modo, o ecumenismo cristão corresponde mais profundamente à vontade do Senhor, que como todos cristãos, na sua oração sacerdotal, rezou pela unidade dos seus discípulos: «para que todos sejam um só» (Jo 17, 21). O que é notável na oração de Jesus é que ele não ordena a unidade aos seus discípulos, nem a exige; antes, reza por ela dirigindo-se ao Pai celeste. Esta oração revela em que consiste e em que deve consistir a busca ecuménica dirigida a restaurar a unidade à luz da fé. O ecumenismo cristão não pode ser outra coisa senão a adesão de todos os cristãos à oração sacerdotal do Senhor, e torna-se isso quando os cristãos fazem seu, no seu íntimo, o forte desejo de unidade. Se o ecumenismo não se limita a uma dimensão interpessoal e filantrópica, mas tem uma inspiração e um fundamento verdadeiramente cristológicos, não pode ser outra coisa senão a participação na oração sacerdotal de Jesus. O significado mais profundo do ecumenismo espiritual como ecumenismo cristológico é que todos nós nos deixamos envolver no movimento de oração ao Pai celeste, dirigido por Jesus, e assim nos tornamos um só. A morada interior da unidade dos cristãos só pode ser a oração de Jesus.
A atualidade duradoura
do Concílio
Se tivermos em conta estes diferentes aspetos da confissão cristológica do Concílio de Niceia, torna-se clara, como imperativo importante do ecumenismo de hoje, a necessidade de celebrar o seu 1700º aniversário na comunhão ecuménica entre todas as Igrejas cristãs, de redescobrir e valorizar novamente a sua confissão de fé em Jesus Cristo. Esta necessidade impõe-se também por outra razão. Se olharmos com honestidade para o contexto atual da fé nas nossas latitudes, temos de reconhecer que nos encontramos numa situação semelhante à do século iv, pois estamos a assistir a um forte ressurgimento das tendências arianas.
Já nos anos 90, o cardeal Joseph Ratzinger via num “novo arianismo” o verdadeiro desafio que o cristianismo contemporâneo enfrentava. O espírito do arianismo é percetível sobretudo no facto de, ainda hoje, não poucos cristãos serem sensíveis a todas as dimensões humanas da figura de Jesus de Nazaré, mas têm problemas perante a confissão cristológica segundo a qual Jesus de Nazaré é o Filho unigénito do Pai Celestial e, portanto, perante a fé cristológica da Igreja. Hoje, muitas vezes, mesmo na Igreja e no ecumenismo, é muito difícil discernir no homem Jesus o rosto do próprio Deus e confessá-lo como Filho de Deus, porque se tende a vê-lo apenas como um ser humano, embora sumamente bom e excecional.
Mas se Jesus, como acreditam muitos cristãos de hoje, fosse apenas um homem que viveu há dois mil anos, então estaria irremediavelmente relegado para o passado, e só a nossa memória humana poderia trazê-lo de volta ao presente, mais ou menos claramente. Nesse caso, Jesus não poderia ser o único Filho de Deus, no qual o próprio Deus está presente entre nós. Só se for verdadeira a confissão da Igreja segundo a qual o próprio Deus se fez homem e Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem e, por isso, participa da presença de Deus, que abraça todos os tempos é que podemos confessá-lo hoje como «consubstancial ao Pai».
A fé cristã mantém-se ou decai hoje com a confissão cristológica do Concílio de Niceia. Por isso, ocupar-se deste Concílio é importante, não apenas a nível histórico. Pelo contrário, o seu credo continua a ser atual, mesmo e sobretudo na situação da fé de hoje. E reavivar a sua confissão cristológica representa um desafio que deve ser assumido em comunhão ecuménica.
A procura de uma data comum da Páscoa
O Concílio de Niceia é também significativo do ponto de vista ecuménico porque, para além da confissão cristológica, tratou de questões disciplinares e canónicas, que, expostas em vinte cânones, fornecem uma boa panorâmica dos problemas e das preocupações pastorais da Igreja no início do século iv. Trata-se de questões que dizem respeito ao clero, a algumas disputas jurisdicionais, a casos de apostasia, à situação dos novacianos, os chamados “puros”, e os seguidores de Paulo de Samósata.
A questão pastoral mais importante era a relativa à data da Páscoa, o que demonstra que esta já era controversa na Igreja primitiva e que existiam datas diferentes: sobretudo na Ásia Menor, os cristãos celebravam a Páscoa em simultâneo com a Páscoa judaica, no dia 14 de Nisan, e eram por isso conhecidos como quartodecimanos. Em contrapartida, os cristãos chamados protopasquistas, sobretudo na Síria e na Mesopotâmia, celebravam a Páscoa no domingo seguinte à Páscoa judaica. Perante esta situação, é mérito do Concílio de Niceia ter encontrado uma regra uniforme, expressa na “Carta aos Egípcios”: «Como boa notícia, informamos-vos também do acordo sobre a Santa Páscoa: graças às vossas orações, chegou-se a uma feliz solução também sobre este ponto». Isto significava que a festa da Páscoa passaria a ser celebrada de acordo com o que acontecia entre os romanos.
Na história do cristianismo, surgiu uma nova situação no século xvi, quando o Papa Gregório xiii, com uma reforma fundamental do calendário, introduziu o chamado calendário gregoriano, que prevê a celebração da Páscoa no domingo a seguir ao primeiro plenilúnio da primavera. Enquanto as Igrejas do Ocidente calculam desde então a data da Páscoa de acordo com este calendário, as Igrejas do Oriente continuam a utilizar maioritariamente o calendário juliano, que foi também a base do Concílio de Niceia.
Apesar de, entretanto, terem sido discutidas várias propostas para uma data comum da Páscoa, a questão ainda não foi resolvida. Já o Concílio Vaticano ii se deteve neste urgente desafio pastoral num apêndice à Constituição sobre a Sagrada Liturgia “Sacrosanctum Concilium”, promulgada em 1963, declarando que pretendia ter «em devida conta o desejo de muitos de que a festa da Páscoa seja atribuída a um domingo específico e de adotar um calendário fixo». O Concílio declarou-se favorável «a que a festa da Páscoa seja atribuída a um domingo específico do calendário gregoriano, desde que haja o consentimento dos interessados, especialmente dos irmãos separados da comunhão com a Sé Apostólica». O Papa Francisco manifestou várias vezes o mesmo espírito de abertura.
O 1700º aniversário do Concílio de Niceia oferece uma ocasião especial para retomar a questão da data da Páscoa, tanto mais que, em 2025, ela coincidirá no mesmo dia, 20 de abril, tanto para as Igrejas do Oriente como para as Igrejas do Ocidente. É, pois, compreensível que se tenha despertado na comunidade ecuménica o desejo de aproveitar o grande aniversário do Concílio como uma oportunidade para retomar e intensificar os esforços para encontrar uma data comum para a Páscoa.
Estilo sinodal
Numa perspetiva ecuménica, o Concílio de Niceia tem também uma particular relevância, porque documenta o modo como foram discutidas e decididas em estilo sinodal a então acesa disputa sobre a confissão cristológica ortodoxa e a questão pastoral-disciplinar da data da Páscoa. O historiador da Igreja Eusébio de Cesareia, que foi ele próprio um dos Padres conciliares e viu no Concílio de Niceia um novo Pentecostes, assinalou expressamente que os primeiros servos de Deus se reuniram no Concílio «de todas as Igrejas de toda a Europa, África e Ásia». Pode-se, portanto, considerar o Concílio de Niceia como o início, a nível da Igreja universal, do modo sinodal de discutir questões e tomar decisões.
O 1700º aniversário do Concílio de Niceia deveria, portanto, ser visto também como um convite e um desafio a aprender com a história e a aprofundar o pensamento sinodal, ancorando-o na vida da Igreja. A atual revitalização da dimensão sinodal da Igreja não é uma novidade; pelo contrário, pode ser unida às tradições sinodais da Igreja primitiva. Já o famoso Padre da igreja João Crisóstomo explicava que “Igreja” é um nome «que indica um caminho comum» e que Igreja e Sínodo são, portanto, «sinónimos».
Neste domínio, podemos também aprender muito uns com os outros nos diálogos ecuménicos, uma vez que a sinodalidade se desenvolveu de formas diferentes nas várias Igrejas e Comunidades eclesiais. Demonstraram-no, por exemplo, os Simpósios ecuménicos internacionais organizados pelo Instituto para os Estudos Ecuménicos da Pontifícia Universidade de S. Tomás de Aquino, em preparação para o Sínodo dos bispos, em torno de conceitos e experiências relativas à sinodalidade nas Igrejas cristãs no Oriente e no Ocidente, e intitulados “À escuta do Oriente” e “À escuta do Ocidente”. Tais encontros demonstraram de forma significativa que a Igreja católica pode enriquecer-se com o pensamento teológico e as experiências de outras Igrejas no esforço de reavivar um estilo de vida sinodal e de reforçar as estruturas correspondentes, e que o aprofundamento da dimensão sinodal na teologia e na prática da Igreja católica representa um contributo importante que esta pode introduzir nos diálogos ecuménicos, também em vista de uma compreensão mais adequada da estreita ligação entre sinodalidade e primado.
A dimensão ecuménica da sinodalidade foi também realçada de modo particular na Assembleia geral do Sínodo dos bispos. O Papa Francisco recordou várias vezes a interdependência entre a sinodalidade e o caminho ecuménico, afirmando que o caminho sinodal empreendido pela Igreja católica deve ser ecuménico, tal como é sinodal o caminho ecuménico. O modo em que a sinodalidade é apresentada e discutida na Igreja católica ocorre, portanto, numa perspetiva ecuménica.
A autoridade da Igreja
e do Estado
No entanto, há uma diferença fundamental que não deve ser negligenciada entre os esforços atuais destinados a revitalizar a sinodalidade e o Concílio de Niceia. À primeira vista pode parecer insignificante, mas a sua relevância emerge sobretudo se a considerarmos numa perspetiva ecuménica. Trata-se do facto histórico do Concílio de Niceia ter sido convocado por uma autoridade estatal, mais precisamente pelo imperador Constantino. Constantino sentia que a disputa que tinha surgido sobre a confissão cristológica constituía uma grande ameaça ao seu projeto de consolidar a unidade do império sobre o fundamento da unidade da fé cristã. Na possibilidade de uma divisão iminente na Igreja, ele via principalmente um problema político; no entanto, era visionário o suficiente para perceber que a unidade da Igreja tinha de ser resolvida não de modo político, mas eclesiástico-teológico. Para reconciliar as comunidades então em conflito, convocou o Primeiro Concílio Ecuménico na cidade de Niceia, na Ásia Menor, perto da residência imperial de Nicomédia.
Uma das consequências infelizes desta abordagem é o facto de, depois de Constantino, os imperadores, em particular o seu filho Constâncio, terem seguido uma política decisiva de distanciamento do credo do Concílio de Niceia e promovido novamente a heresia de Ário. Isto significa que a decisão do Concílio de Niceia não pôs fim à disputa sobre a compatibilidade entre a profissão de fé na divindade de Jesus Cristo e a convicção monoteísta do século iv, mas reacendeu a controvérsia sobre a natureza de Jesus Cristo como pertencente a Deus ou à criação. Estes desenvolvimentos impeliram inclusive Basílio, o conhecido bispo de Cesareia, a comparar a situação após o Concílio de Niceia com uma batalha naval noturna, em que todos combatiam contra todos, chegando à conclusão que, em consequência das controvérsias conciliares, surgiriam na Igreja «uma desordem e uma confusão terríveis» e «tagarelices incessantes».
De um ponto de vista ecuménico, é importante notar que, devido a este contexto histórico, emergiram na Igreja no Oriente e na Igreja no Ocidente diferentes conceitos da relação entre a Igreja e o Estado. A Igreja no Ocidente teve de aprender, de uma longa e complicada história, que a maneira adequada de dar forma à sua relação com o Estado é fazer com que haja uma separação entre os dois, apesar de manter uma parceria. Na Igreja do Oriente, pelo contrário, difundiu-se amplamente como modelo uma ligação estreita entre o governo estatal e a hierarquia eclesiástica, geralmente indicada como “sinfonia entre Estado e Igreja”, particularmente evidente nos conceitos ortodoxos de autocefalia e território canónico.
As diferentes tradições na configuração da relação entre Igreja e Estado estiveram frequentemente no pano de fundo dos conflitos verificados ao longo da história entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, e tiveram um impacto significativo também nas relações ecuménicas. No entanto, estes integram os temas até agora menos debatidos nos diálogos ecuménicos. Por conseguinte, será crucial colocá-los entre os primeiros pontos da ordem do dia ecuménico, sobretudo tendo em vista o grande aniversário do Concílio de Niceia em 2025.
Por conseguinte, o 1700º aniversário do Concílio de Niceia não só representa uma oportunidade frutuosa para renovar, na comunhão ecuménica, a profissão de fé em Jesus Cristo, Filho consubstancial ao Pai, mas constitui também um desafio importante, ou seja, o de abordar e discutir com clareza as problemáticas do passado que, ainda em aberto, não foram suficientemente afrontadas nos debates ecuménicos realizados até agora. Se tanto a oportunidade como o desafio forem igualmente aproveitados, o 1700º aniversário do Concílio de Niceia poderá revelar-se verdadeiramente um importante ponto de viragem para o futuro do ecumenismo.
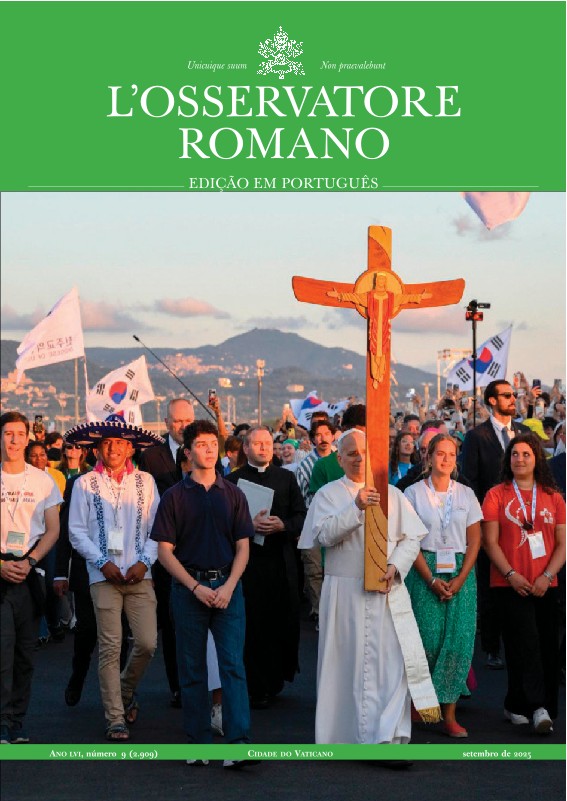


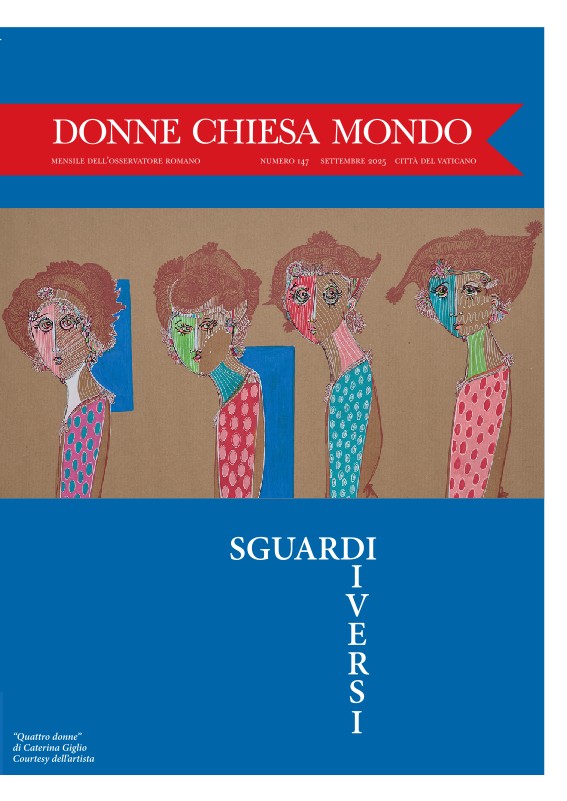
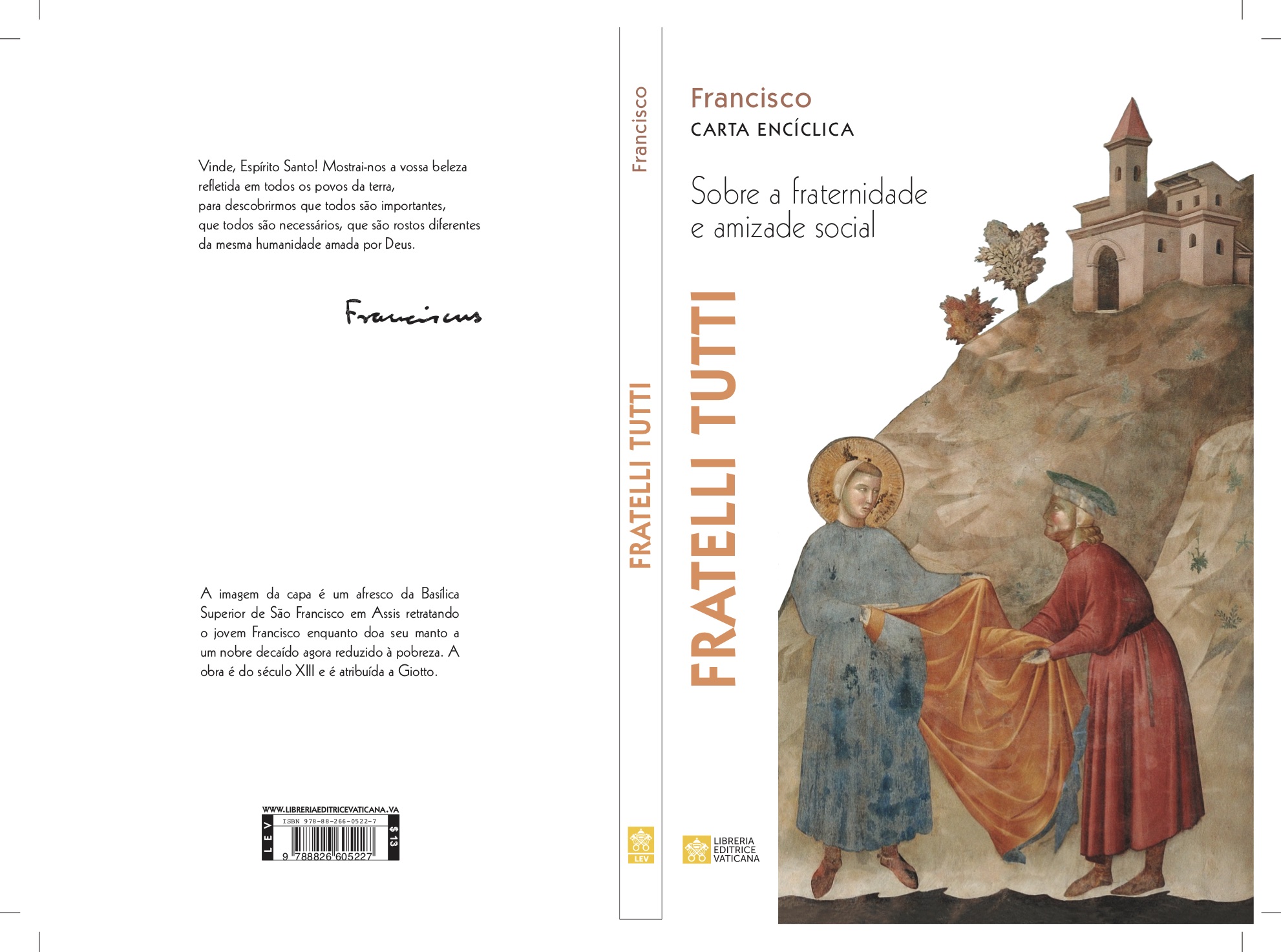 Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti