
Não que a vida em Jerusalém tenha concedido tréguas antes de 7 de outubro, mas certamente os dias do patriarca de Jerusalém dos latinos no último ano foram intensos e agitados, entre o cuidado pastoral, as relações institucionais e inevitavelmente também as relações com a imprensa e os meios de comunicação internacionais. «Definitivamente, a parte que mais me incomoda: faz-me perder muito tempo!», começou em tom irónico o cardeal Pierbattista Pizzaballa.
Eminência, já passou um ano desde aquela terrível manhã.
Sim, um ano igualmente terrível. E recordamo-lo com o Papa Francisco e com todas as Igrejas do mundo, com um dia de oração e penitência. Para manter o nosso coração livre de todas as formas de medo e de desejo de raiva. Elevando a Deus, com a oração, o nosso desejo de paz para toda a humanidade.
Um mês após o massacre de 7 de outubro, concedeu-nos uma longa entrevista. A entrevista tocou os nossos leitores porque era uma espécie de ressurgimento do silêncio atordoante em que a tragédia nos tinha mergulhado, e na qual nos falou também dos seus sentimentos pessoais. «Tudo mudará», disse-nos. O que mudou realmente? E o que mudou para Vossa Eminência e para os cristãos da Terra Santa?
Antes de 7 de outubro de 2023, o panorama político era completamente diferente. O conflito israelo-palestiniano, embora latente, parecia ter entrado numa rotina não particularmente alarmante, de modo que não era uma prioridade nas agendas da diplomacia internacional. O diálogo inter-religioso seguia o seu curso normal, fortalecido pelas viagens do Papa Francisco e pela encíclica Fratelli tutti. A comunidade cristã vivia comprometida as suas atividades pastorais. Aqui, tudo isto parece agora letra morta. Hoje, a questão palestiniana ressurgiu, mas em termos dramáticos, tornando-a ainda mais difícil de resolver. O diálogo inter-religioso atravessa uma crise profunda. E as iniciativas pastorais da comunidade cristã devem ser completamente repensadas num contexto novo, cheio de grande desconfiança e incompreensões. Um ódio generalizado que nunca tínhamos visto antes, tanto na linguagem como na violência física, militar. Tudo isto não nos pode deixar indiferentes. Portanto, para responder à pergunta: sim, muita coisa mudou. Temos que voltar a falar do futuro, mas tendo em consideração que as feridas que este conflito deixa são numerosas e lacerantes. Foi um ano muito difícil também para mim. Por um lado, embora esmagado pelo marasmo quotidiano, é preciso preservar e concentrar-se na vida espiritual. E além disso ser capaz de ajudar a própria comunidade a definir as razões para estar aqui, o seu próprio papel. Estas são sempre questões muito abertas, pois não têm respostas certas que são sempre válidas ao longo do tempo.
Na entrevista de novembro passado, lembro-me que pensávamos que se chegaria a uma espécie de trégua em poucas semanas. Estávamos enganados: em seguida, pudemos comentar juntos o sexto mês de guerra, num clima ainda mais desesperado. Há um paradoxo trágico neste conflito: quanto mais se prolonga, mais se afasta a sua conclusão.
Não sei se a conclusão se afasta, mas certamente o conflito tomou outro rumo. Já não está centrado em Gaza, tornou-se um conflito regional, que todos dizem querer evitar, mas ninguém parece ser capaz de impedir. Custa-me crer que possa haver uma nova expansão do conflito, uma verdadeira guerra regional no Médio Oriente. Mas o risco existe. Ao contrário, vejo outro perigo, o de uma total falta de exit strategy. Todas as guerras devem ter uma conclusão política, não militar.
Não há visão política em parte alguma.
Absolutamente. Só se fala de estratégia militar, não de política. Na convicção de que a paz só pode vir com a vitória sobre o adversário. Como vai ser Gaza depois disto? Como vai ser o Líbano? Alguém fala sobre isto? Aqui, creio que estas são as perguntas que devemos fazer. Perguntas que também a comunidade internacional deveria fazer, para ajudar a encontrar soluções. Caso contrário, só restará uma genérica moral suasion para a pacificação, além disso ignorada.
Vive aqui há quase trinta e cinco anos.
Sim, cheguei aqui a 7 de outubro (sic!) de 1990.
E em todos estes anos viu muita coisa. No entanto, definiu esta guerra «a mais longa, a mais cruel». Nesta guerra, assistimos a cenas horríveis de ambos os lados; até as migalhas de sentimento humano parecem ter-se perdido. Conhece bem as duas sociedades: o que aconteceu? Porquê esta violência sem precedentes?
Tenho a impressão de que algo se rompeu na alma das duas sociedades. Talvez já estivesse rompido antes, mas agora está realmente despedaçado. As duas sociedades estão traumatizadas. A sociedade israelita viveu o dia 7 de outubro como um pequeno Shoah. E para a sociedade palestiniana, a guerra em Gaza é uma nova Nakba. Por isso, em ambos os campos, é a reabertura de feridas profundas na consciência dos dois povos. Feridas dilacerantes que marcaram para sempre a vida dos dois povos e agora reaparecem como fantasmas ameaçadores. Isto desencadeou o medo. E o medo pode gerar uma violência incrível, pois é o medo de pôr em risco a própria existência. Foi isto que deu origem à violência, à desumanidade a que assistimos este ano: a recusa de reconhecer a existência do outro para preservar a própria. Já podemos ver isto na linguagem utilizada, cheia de violência, desumanidade, desconfiança. É sempre muito importante prestar atenção à linguagem.
No entanto, da parte de Israel, até 7 de outubro, este receio não era evidente, na verdade — também graças a uma época de economia favorável — a sociedade parecia ter afastado o conflito. Não é por acaso que para a narrativa israelita o dia 7 de outubro é um ponto de partida fixo, enquanto que para os palestinianos há também um 6, um 5, um 4, e assim por diante. Quero dizer que, na Cisjordânia, 2022 e 2023 foram muito difíceis.
É verdade que a sociedade israelita se convencera de que o conflito com os palestinianos tinha sido absorvido, assimilado. Mas aqui voltamos ao papel da política, ou melhor, à ausência de política. A política foi incapaz de ler a realidade e propor soluções adequadas para uma situação que ardia sob as cinzas. Que, ao contrário, explodiu da forma mais violenta, mais radical, mais odiosa possível. E para a qual não estava preparada.
Despreparada, mas também dividida. As divisões na sociedade israelita suscitadas pela reforma da justiça querida por Netanyahu não conheceram tréguas durante a guerra, na verdade, os protestos uniram-se e amplificaram-se com os protestos sobre a gestão da situação dos reféns. Vem-me à mente as palavras do ex-presidente israelita Reuven Rivlin, que temia o regresso das tribos do Israel bíblico. Israel corre o risco de ganhar militarmente e de perder do ponto de vista político?
Sempre se soube que existem tribos em Israel, tal como em muitas outras sociedades. Foram os tipos de tribos que mudaram. Antes eram os ashkenazis, os sefarditas, os russos, etc., agora são os leigos, os religiosos ortodoxos, os religiosos nacionalistas, etc. Mas não creio que a sociedade israelita está dividida quanto às questões essenciais, em primeiro lugar quanto à ameaça contra a sua existência. Relativamente à opção militar, não existe uma divisão substancial. Talvez haja quanto às perspetivas futuras, quanto à ideia de um Estado, mas não há quanto às questões essenciais. É demasiado cedo para dizer o que será Israel daqui a alguns anos. Claramente esta guerra marcou um sulco profundo na vida política do país. Acho que, quando a guerra terminar, haverá mudanças profundas. Mas quais, e em que direção, é difícil prever hoje.
Por outro lado, olhando para os palestinianos, os acontecimentos do ano passado dão a impressão de confirmar o que parece ser a condenação histórica da sociedade palestiniana, ou seja, não saber exprimir uma liderança com autoridade, capaz de perseguir um projeto de paz e coexistência com Israel.
Os palestinianos pagam o preço de muitas coisas. São o bode expiatório de muitas histórias, de uma macropolítica do Médio Oriente que sempre os usou e nunca os amou. Incluindo os países árabes. E os países ocidentais, que sempre os apoiaram com palavras, mas nunca plenamente. E depois pagam, sem dúvida, o preço de uma liderança politicamente frágil, dividida e, muitas vezes, não à altura das circunstâncias. No final, foram sempre deixados sozinhos. Um povo que sofreu tanta violência. Do exterior e do interior.
No ano passado, numa longa entrevista que o presidente palestiniano Mahmud Abbas concedeu ao nosso jornal, realçou-se um dado sobre o qual nunca se refletiu suficientemente, apesar da sua simples evidência, ou seja, as razões não só políticas, mas sobretudo antropológico-culturais do conflito: a distância intransponível de costumes e valores entre árabes e judeus, principalmente provenientes da Europa. A pequena comunidade cristã que Vossa Eminência governa tem a vantagem de não dispor de uma referência étnica exclusiva; há cristãos de língua árabe, mas também de língua hebraica. Pode isto constituir um eventual laboratório de diálogo?
Os conflitos quase nunca são apenas políticos e militares. Na sua origem há sempre razões culturais, históricas, identitárias. Não há dúvida de que este conflito tem uma dimensão antropológica. Há duas visões diferentes do mundo, da sociedade, do homem. Totalmente diferentes! Basta fazer uma visita a Ramallah e a Telavive para ter uma ideia desta diversidade. Sob certos pontos de vista, podem até encontrar-se. Tem razão quando diz que este aspeto, embora tão importante, nunca foi suficientemente realçado. As perspetivas aqui nunca poderão ser de integração, mas na melhor das hipóteses de uma coexistência civil e respeitosa. Uma vida num condomínio, onde cada um continua a ser ele próprio, com a sua cultura, os seus costumes, a sua identidade. É difícil, bem sei, mas é possível. A nossa pequena comunidade interétnica, a Igreja católica, continua a ser um pequeno sinal. Claro que nunca faremos escola, mas este nosso esforço — porque até dentro de nós é difícil preservar esta unidade — deve continuar a ser o sinal de uma forma diferente de viver e de se relacionar. E deve ser também uma das formas como a Igreja faz a diferença nesta terra sempre tão dividida em tudo.
Este ano Vossa Eminência bateu um recorde, por mais triste que seja. Foi o primeiro, e ainda o único, líder religioso que entrou em Gaza. Pode dizer-nos algo sobre esta experiência, sobretudo em termos de relações humanas?
Sim, consegui entrar em Gaza. E espero voltar a fazê-lo. O dever de um pastor é estar lá. Estar presente ao lado do seu rebanho. Eu queria não só estar perto dele, mas também compreender como poder ajudá-lo, como ser-lhe útil. Quando entrei em Gaza — e não foi nada fácil! — encontrei uma situação terrível, uma cidade destruída, onde a ausência de edifícios, por estarem demolidos, torna impossível até localizar as ruas e, portanto, orientar-se. Uma desolação total. Por outro lado, encontrei uma comunidade viva e comovedora. Ficaram surpreendidos com a minha chegada e a do seu pároco, padre Gabriel, que estava fora de Gaza na manhã de 7 de outubro. Fiquei quatro dias. Dias de trabalho e de esperança! O que mais me impressionou na comunidade foi não ter ouvido sequer uma única palavra de rancor, de ódio, de raiva. Nada! E isto surpreendeu-me muito, pois humanamente eles tinham todas as razões do mundo para se sentirem zangados e frustrados. Apreciei muito a presença e o trabalho incrível das religiosas. Fiquei muito sensibilizado com as palavras de um jovem que crismei naqueles dias. O ataque de 7 de outubro tinha sido chamado pelo Hamas “Operação dilúvio de Al Aqsa”, e ele disse-me: «Se este é o dilúvio, nós, a comunidade cristã de Gaza, somos a Arca, a Arca de Noé». A Arca suspensa sobre as ondas de um mar de violência, com a sua proa orientada para o arco-íris da paz.
A posição da Igreja é de uma simplicidade desarmante: estamos ao lado de quem sofre. Seja qual for o lado em que se encontre. Mas tem dificuldade em ser compreendida. Deste ponto de vista, Vossa Eminência foi alvo frequente durante este ano, “repreendido” de ambos os lados. Quer aproveitar a ocasião para pôr fim a tais críticas?
Quando se desempenha um papel público num contexto tão polarizado, é inevitável ser alvo. O importante é que, quando falamos, procuramos exprimir não o que os outros esperam ouvir, mas aquilo que, em consciência, julgamos ser correto e verdadeiro. É preciso ter em conta inclusive os erros, que também se cometem, pois são inevitáveis num contexto tão crítico: por exemplo, uma comunicação às vezes excessiva, ou omissa, incompleta. O importante é ser honesto: a Igreja deve estar com quem sofre. Sempre! A Igreja não pode ser neutral. Não posso ir dizer aos meus paroquianos de Gaza, que estão sob as bombas: «Nós somos neutrais!». Mas se é verdade que a Igreja não pode ser neutral, também é verdade que não podemos fazer parte do conflito. Isto seria não só errado, mas também insensato, num contexto em que, em setenta e seis anos de guerra, as falhas de uns e de outros não se compensam, aliás, só se somam. Num ambiente tão polarizado, não é fácil ser verdadeiro, ter a coragem de dizer uma palavra de verdade e, ao mesmo tempo, ser capaz de exprimir proximidade em relação a quem sofre. Manter sempre um diálogo aberto com todos, com quem sofre, claro, mas também com quem causa o sofrimento. Ser e permanecer, como pessoa e como instituição, uma referência livre em todos os sentidos, neste doloroso pântano de violência, ódio, narrativas de exclusão e rejeição. Não sou chamado a exprimir a posição dos palestinianos e muito menos dos israelitas. Sou chamado a falar em nome da Igreja. E a voz da Igreja tem como único critério o Evangelho de Jesus Cristo. É daí que se deve começar e é aí que se deve sempre chegar.
Permita-me uma pergunta mais pessoal. Tenho uma recordação da nossa conversa de há onze meses. Vossa Eminência insistiu muito sobre o termo “solidão”. Referia-se sobretudo à solidão da verdade num contexto de ódio, mas era bastante claro que também sofria o pesado fardo da solidão no seu papel de líder dos católicos da Terra Santa. Como viveu estes meses?
Digamos que a solidão é requerida pela função. A minha exige-a porque a solidão nos permite ser livres. E não somos autenticamente livres se não mantivermos uma certa distância, incluindo a emocional. Além disso, sou um ser humano e é óbvio que isto me pesa.
Imagino que é particularmente pesado para alguém que, como frade, sempre viveu em comunidade.
É claro! Mas a solidão deve ser habitada. Habitada pela oração, pela relação com o Senhor, pela consciência de fazer o que é correto, pelo discernimento constante e também pelas relações humanas com as pessoas certas.
Antes de assumir o papel de pastor dos cristãos na Terra Santa, desempenhou um precioso papel de ponte entre cristãos e judeus, e foi chefe dos cristãos de língua hebraica. As suas relações com o mundo judeu israelita mudaram de alguma forma depois de 7 de outubro de 2023?
Houve diferentes fases. No início foi difícil. Sobretudo para eles. Precisavam de muita proximidade, solidariedade, afeto, amor. Que talvez não sentissem totalmente. Mas também nós sentíamos a necessidade de que eles compreendessem o que se passava nas semanas e meses depois de 7 de outubro. Em seguida, com o tempo, as amizades, aquelas verdadeiras, permaneceram. Certamente estamos numa nova fase do diálogo inter-religioso. Já não é tempo apenas de boas intenções e de gentilezas educadas; pelo contrário, devemos ancorar o nosso diálogo na realidade, que também está presente em todo o seu drama. Discutimos e dialogamos muito sobre o nosso passado comum e difícil, e isto era necessário. Mas agora, sem esquecer o passado, devemos concentrar-nos no presente, começando pelas dificuldades com que nos deparamos hoje. Começando por procurar compreender por que motivo, neste momento decisivo das nossas relações, temos dificuldade de nos compreendermos mutuamente, de encontrar uma linguagem comum. E depois, sobretudo, como unir os nossos esforços rumo à paz. Não pode continuar a ser um discurso académico ou teórico, mas mergulhado na realidade viva que nos circunda.
Vossa Eminência é também o pastor dos cristãos na Jordânia. E esteve várias vezes naquele país nos últimos meses. Como se viveu ali o dia 7 de outubro?
Muito mal, diria. Nos primeiros meses, a Jordânia assistiu a manifestações contínuas, até duras, de solidariedade para com os palestinianos de Gaza e contra Israel. Não esqueçamos que cerca de 60% da população do Reino da Jordânia é palestiniana e que uma grande parte da comunidade cristã jordana é também de origem palestiniana.
Agora toda a atenção dos meios de comunicação social está centrada na frente norte com o Líbano e nos perigos de guerra entre Israel e o Irão. Presta-se muito menos atenção à situação na Cisjordânia que, em termos políticos, é o verdadeiro cerne do problema. Esteve recentemente em Jenin, o epicentro de violentos confrontos entre o exército israelita e os milicianos palestinianos.
Politicamente, o jogo é complexo e desenrola-se em várias frentes. A Cisjordânia é, sem dúvida, uma das mais complexas. Desde 7 de outubro, a situação degenerou em termos económicos, políticos e militares. As constantes incursões dos colonos israelitas levam a uma situação de “terra de ninguém”, sem regras, nem direitos, onde ganha quem dispara primeiro e mais forte.
Estreitando ainda mais o círculo de todos os lados, olha-se para Jerusalém. Sem paz em Jerusalém, nunca haverá paz em todo o Médio Oriente. Há alguns anos, disse-me que «a guerra em Jerusalém é uma guerra imobiliária, é travada para conquistar um metro quadrado»; entretanto, a infiltração judaica na cidade velha e na parte leste prossegue sem parar.
Sim. Jerusalém é a prova de fogo do conflito, não só na Terra Santa, mas no Médio Oriente em geral. Jerusalém está no centro de tudo, no bem e no mal.
O Knesset arquivou também formalmente a solução dos “dois Estados” e Netanyahu classificou os acordos de Oslo como um erro na história de Israel. Há apenas uma expressão que Netanyahu e Sinwar partilham: ambos reivindicam a jurisdição exclusiva “do rio ao mar”, sem espaço para o outro. Será que a expressão “dois povos em dois Estados” ainda é viável hoje?
Há problemas que têm solução e problemas que não têm. Realisticamente, neste momento, uma solução para o conflito israelo-palestiniano, seja ela de “dois povos em dois Estados” ou de “duas nações num Estado” ou qualquer outra que se imagine, simplesmente não existe. Precisamos de novos rostos e novas perspetivas. E este é um problema não só para esta terra, mas para todo o Médio Oriente, a começar, depois dos acontecimentos das últimas horas, pelo Líbano. Devemos repensar amplamente em todo o contexto, e em Jerusalém que, repito, é o cerne da questão. Todo o Médio Oriente precisa de uma nova liderança e de novas visões. Só então será possível debater as modalidades mais adequadas para garantir a paz entre os povos.
No decurso deste ano, Vossa Eminência teve que viajar também muito pela Europa e pela América. Qual foi a sensação que teve nas comunidades cristãs a propósito do conflito em curso?
Unidade no apoio aos cristãos da Terra Santa, mas no fundo muita confusão ou até divisão. É difícil compreender os motivos do conflito. Por outro lado, a política noutros países também leva à polarização. Só a voz do Papa Francisco se ergue para deplorar a crise de humanidade que permeia estes nossos tristes tempos. E digo-o sem qualquer orgulho partidário, mas com grande dor no coração.
Roberto Cetera
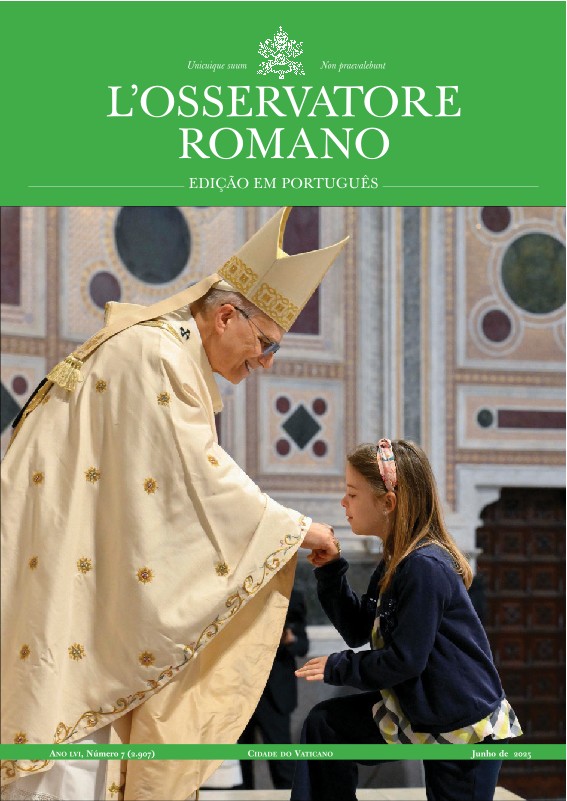



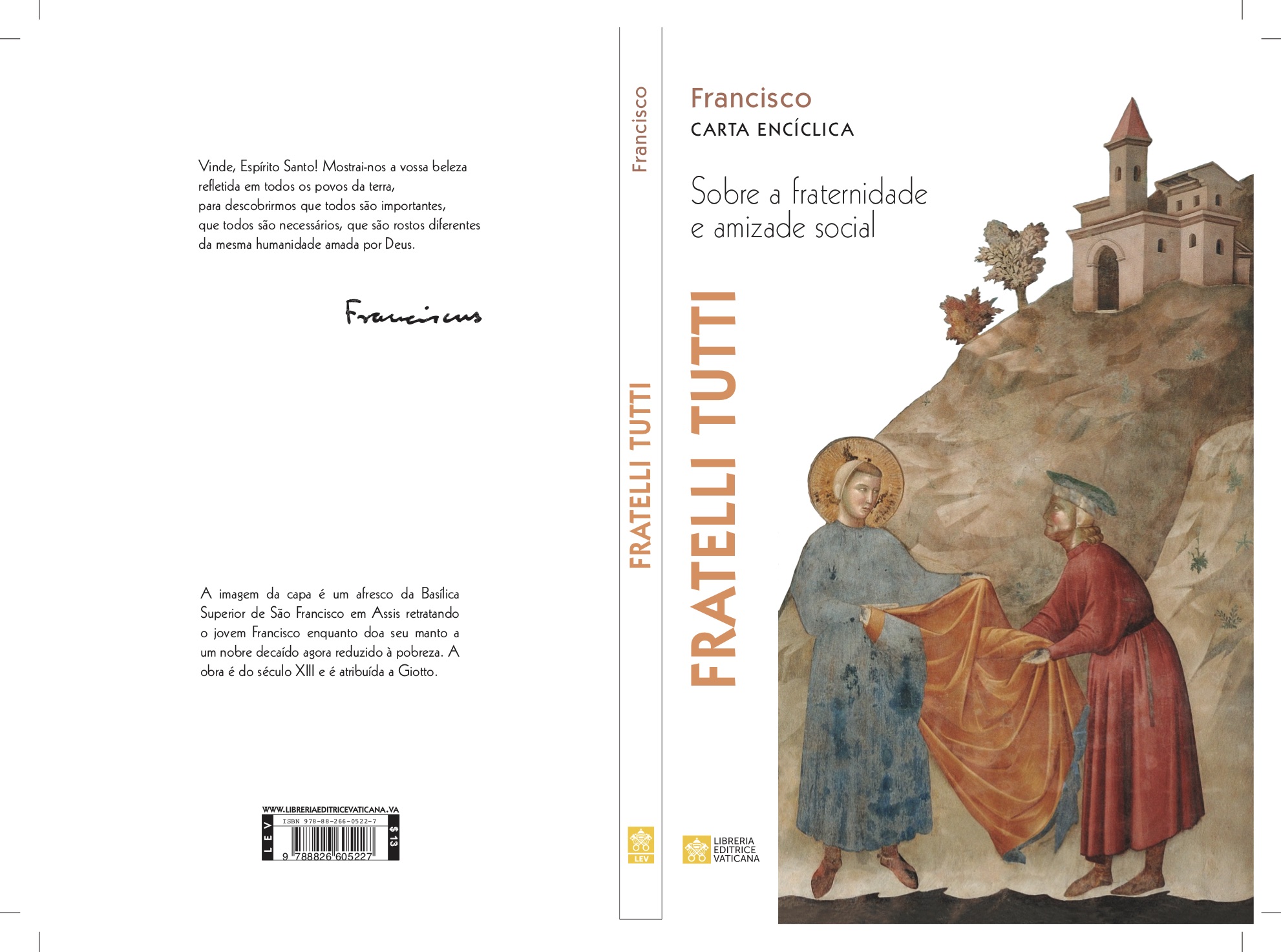 Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti