Viagem do Pontífice à Hungria
A cultura é salvaguarda

Na tarde de domingo, 30 de abril, o Papa Francisco pronunciou o último discurso da viagem à Hungria, encontrando-se com o mundo universitário e da cultura na sede da Faculdade de Informática e Ciências biónicas da Universidade católica “Péter Pázmány”, em Budapeste. Eis o texto do discurso do Pontífice.
Queridos irmãos e irmãs, boa tarde!
Saúdo a cada um de vós e agradeço pelas belas palavras que foram ditas e sobre as quais me deterei daqui a pouco. Este é o último encontro da minha visita à Hungria e, de coração agradecido, apraz-me pensar no curso do Danúbio, que liga este país a muitos outros, unindo a sua geografia e também a história. Em certo sentido, a cultura é como um grande rio: une e percorre várias regiões da vida e da história relacionando-as, permite navegar pelo mundo e abraçar países e terras distantes, sacia a mente, irriga a alma, faz crescer a sociedade. A própria palavra cultura deriva do verbo cultivar: o saber requer uma sementeira diária que, mergulhando nos sulcos da realidade, dá fruto.
Há cem anos, Romano Guardini, grande intelectual e homem de fé, precisamente enquanto se encontrava imerso numa paisagem tornada única pela beleza das águas, teve uma fecunda intuição cultural. Escreveu: «Nestes dias, compreendi melhor do que nunca que há duas formas de conhecimento (...), uma leva a mergulhar no objeto e seu contexto, de modo que o homem que deseja conhecer procura viver nele; a outra, pelo contrário, reúne as coisas, decompõe-nas, ordena-as em alíneas, adquire perícia e posse delas, domina-as» (Cartas do Lago de Como. A tecnologia e o homem, Brescia 2022, p. 55). Distingue entre um conhecimento humilde e relacional, que é como «um reinado que se obtém por meio do serviço; uma criação conforme à natureza, que não ultrapassa os limites estabelecidos» (p. 57), e a outra modalidade de saber que «não observa, mas analisa (...), já não se imerge no objeto, mas agarra-o» (p. 56).
Ora, nesta segunda maneira de conhecer, «as energias e as substâncias são feitas convergir para um único fim: a máquina» (p. 58), e «assim se desenvolve uma tecnologia da submissão do ser vivo» (pp. 59-60). Guardini não demoniza a tecnologia, a qual permite viver melhor, comunicar e ter muitas vantagens, mas alerta para o risco de ela se tornar reguladora, se não dominadora, da vida. Neste sentido, via um grande perigo: «O homem perde todos os laços interiores que lhe conferem um sentido orgânico da medida e das formas de expressão em harmonia com a natureza» e, «enquanto no seu ser interior fica sem contornos, sem medida, sem direção, ele estabelece arbitrariamente os seus fins e constringe as forças da natureza, por ele dominadas, a realizá-los» (p. 60). E deixava aos vindouros uma pergunta inquietante: «Que será da vida, se ela acabar sob este jugo? (...) Que acontecerá (...), quando nos encontrarmos perante o prevalecer dos imperativos da tecnologia? A vida, então, fica enquadrada num sistema de máquinas. (...) Num tal sistema, pode a vida permanecer vivível?» (p. 61).
A vida pode permanecer vivível? É uma questão que será bom pormo-nos, especialmente neste lugar onde se aprofundam a informática e as «ciências biónicas». De facto, aquilo que Guardini vislumbrou é hoje evidente: pensemos na crise ecológica, com a natureza que está simplesmente a reagir ao uso instrumental que dela fizemos. Pensemos na falta de limites, na lógica do «se pode ser feito, é lícito». Pensemos também na vontade de colocar no centro de tudo, não a pessoa e as suas relações, mas o indivíduo centrado nas suas próprias necessidades, ávido de lucros e voraz no aferrar a realidade. E pensemos depois na erosão dos laços comunitários, pelo que a solidão e o medo parecem transformar-se, de condições existenciais, em condições sociais. Quantos indivíduos isolados — muita rede social, mas pouco sociais — recorrem, como num círculo vicioso, às consolações da tecnologia para preencher o vazio que sentem, correndo de forma ainda mais frenética, enquanto, súcubos de um capitalismo selvagem, sentem como mais dolorosas as suas fragilidades, numa sociedade onde a velocidade exterior anda de mãos dadas com a fragilidade interior. Este é o drama. Não quero, com isto, gerar pessimismo — seria contrário à fé que tenho a alegria de professar — mas refletir sobre esta «petulância de ser e ter», que já nos alvores da cultura europeia, Homero via como ameaçadora e que o paradigma tecnocrático exacerba, com um certo uso dos algoritmos que pode representar mais um risco de desestabilização do humano.
Num romance que já mencionei várias vezes, O senhor do mundo, de Robert Benson, observa-se «que a complexidade mecânica não é sinónimo de verdadeira grandeza e que, na exterioridade mais sumptuosa, se esconde a cilada mais subtil» (Verona 2014, 24-25). Escrito há mais de um século, este livro — em certo sentido «profético» — descreve um futuro dominado pela tecnologia onde, em nome do progresso, tudo é uniformizado: por toda a parte se proclama um novo «humanitarismo» que anula as diferenças, apagando as vidas dos povos e abolindo as religiões. Abolindo as diferenças, todas. Ideologias opostas convergem numa homogeneização que coloniza ideologicamente. Este é o drama: a colonização ideológica; o homem, em contacto com as máquinas, torna-se cada vez mais igual, enquanto a vida comum se torna triste e rarefeita. Neste mundo avançado, mas sombrio, descrito por Benson, onde todos parecem entorpecidos e anestesiados, apresenta-se como óbvio descartar os doentes e aplicar a eutanásia, bem como abolir as línguas e culturas nacionais para alcançar a paz universal, o que, na realidade, se transforma numa perseguição fundada na imposição do consenso, a ponto de um protagonista afirmar que «o mundo parece à mercê de uma vitalidade perversa, que tudo corrompe e confunde» (p. 145).
Demorei-me neste exame em tons sombrios, porque é precisamente em tal contexto que melhor resplandecem os papéis da cultura e da universidade. De facto a universidade, como o próprio nome indica, é o lugar onde o pensamento nasce, cresce e matura aberto e sinfónico: não monocorde, nem fechado, mas aberto e sinfónico. É o «templo» onde o conhecimento é chamado a libertar-se dos limites estreitos do ter e do possuir para se tornar cultura, isto é, «cultivação» do homem e das suas relações fundantes: com o transcendente, com a sociedade, com a história, com a criação. A propósito, afirma o Concílio Vaticano ii que «a cultura deve orientar-se para a perfeição integral da pessoa humana, para o bem da comunidade e de toda a sociedade. Por isso, é necessário cultivar o espírito de modo a desenvolver-lhe a capacidade de admirar, de intuir, de contemplar, de formar um juízo pessoal e de cultivar o sentido religioso, moral e social» (Const. past. Gaudium et spes, 59). Já na antiguidade se dizia que o filosofar tem o seu início na admiração, na capacidade de admirar. Nesta perspetiva, muito apreciei as palavras do Monsenhor Reitor, quando disse que, «em todo o verdadeiro cientista, há algo do escriba, do sacerdote, do profeta e do místico»; e ainda que, «com a ajuda da ciência, não queremos apenas compreender, mas queremos também fazer a coisa justa, isto é, construir uma civilização humana e solidária, uma cultura e um ambiente sustentáveis. É com o coração humilde que podemos subir não só ao monte do Senhor, mas também ao monte da ciência».
É verdade! Os grandes intelectuais são humildes. Aliás o mistério da vida desvenda-se a quem sabe penetrar nas pequenas coisas. Estupendo é a este respeito o que nos disse Dorottya: «Descobrindo cada vez mais pequenos detalhes, mergulhamos na complexidade da obra de Deus». Assim entendida, a cultura representa verdadeiramente a salvaguarda do humano. Mergulha na contemplação e molda pessoas que não estão à mercê das modas do momento, mas bem radicadas na realidade das coisas. E que, humildes discípulas do conhecimento, sentem que devem ser abertas e comunicativas, nunca rígidas e combativas. De facto, quem ama a cultura nunca sente ter chegado ao fim acomodando-se, mas sente dentro de si uma saudável inquietação. Investiga, questiona, arrisca, explora; sabe sair das próprias certezas para se aventurar, humildemente, no mistério da vida, que se une com a inquietude, não com o hábito; que se abre às outras culturas e sente a necessidade de partilhar o saber. Este é o espírito da universidade, e agradeço-vos por o viverdes assim, como nos disse o Professor Major, que nos falou da beleza de cooperar com outras realidades educativas, através de programas de investigação partilhados e também acolhendo estudantes originários doutras regiões do mundo, como o Médio Oriente, em particular da martirizada Síria. É abrindo-se aos outros que se conhece melhor a si mesmo. A abertura aos outros é como um espelho: faz-me conhecer melhor a mim mesmo.
A cultura acompanha-nos no conhecimento de nós mesmos. Recorda-no-lo o pensamento clássico, que nunca deve ter ocaso. Vêm à mente as célebres palavras do oráculo de Delfos: «Conhece-te a ti mesmo». É uma das duas frases orientadoras que vos quero deixar ao concluir. Mas que significa conhece-te a ti mesmo? Quer dizer saber reconhecer os próprios limites e, consequentemente, conter a própria presunção de autossuficiência. Faz-nos bem, porque é primariamente reconhecendo-nos como criaturas que nos tornamos criativos, mergulhando-nos no mundo em vez de o dominar. E enquanto o pensamento tecnocrata persegue um progresso que não admite limites, o homem real é feito também de fragilidades, e muitas vezes é precisamente aí que compreende ser dependente de Deus e conexo com os outros e com a criação. Por conseguinte a frase do oráculo de Delfos convida a um conhecimento que, partindo da humildade, partindo do limite, partindo da humildade do limite, descobre as próprias potencialidades maravilhosas, que vão muito além das da tecnologia. Por outras palavras, conhecer-se a si mesmo requer que se mantenham juntas, numa dialética virtuosa, a fragilidade e a grandeza do homem. Da maravilha por este contraste, surge a cultura: nunca satisfeita e sempre à procura, inquieta e comunitária, disciplinada na sua finitude e aberta ao absoluto. Desejo que possais cultivar esta apaixonante descoberta da verdade!
A segunda frase orientadora refere-se precisamente à verdade. É uma frase de Jesus Cristo: «A verdade vos tornará livres» (Jo 8, 32). A Hungria viu uma sucessão de ideologias que se impunham como verdades, mas não davam liberdade. E ainda hoje o risco não desapareceu: penso na passagem do comunismo ao consumismo. A acomunar ambos os «ismos» é uma falsa ideia de liberdade; a do comunismo era uma «liberdade» forçada, limitada de fora, decidida por outrem; a do consumismo é uma «liberdade» libertina, hedonista, nivelada sobre si mesma, que torna escravos do consumo e das coisas. E quão fácil é passar dos limites impostos ao pensar, como no comunismo, ao pensar-se sem limites, como no consumismo; de uma liberdade frenada a uma liberdade sem freios! Em vez disso, Jesus oferece um caminho de saída, dizendo que é verdadeiro o que liberta, o que liberta o homem dos seus vícios e dos seus isolamentos. A chave para ter acesso a esta verdade é um conhecimento nunca desligado do amor, relacional, humilde e aberto, concreto e comunitário, corajoso e construtivo. É isto que as Universidades são chamadas a cultivar, e a fé a nutrir. Assim, eis os votos que formulo, para esta e para todas as Universidades: que sejam um centro de universalidade e liberdade, um fecundo estaleiro de humanismo, um laboratório de esperança. De coração vos abençoo e agradeço por tudo o que fazeis.
Muito obrigado!
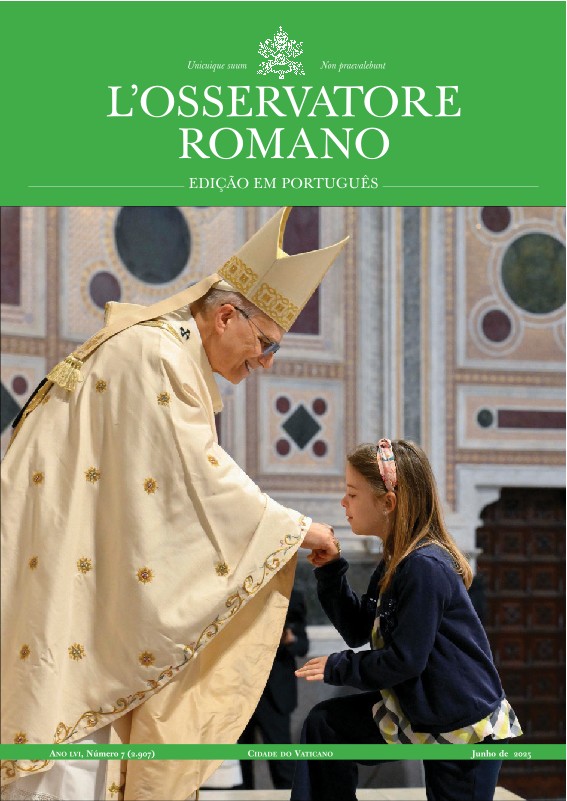



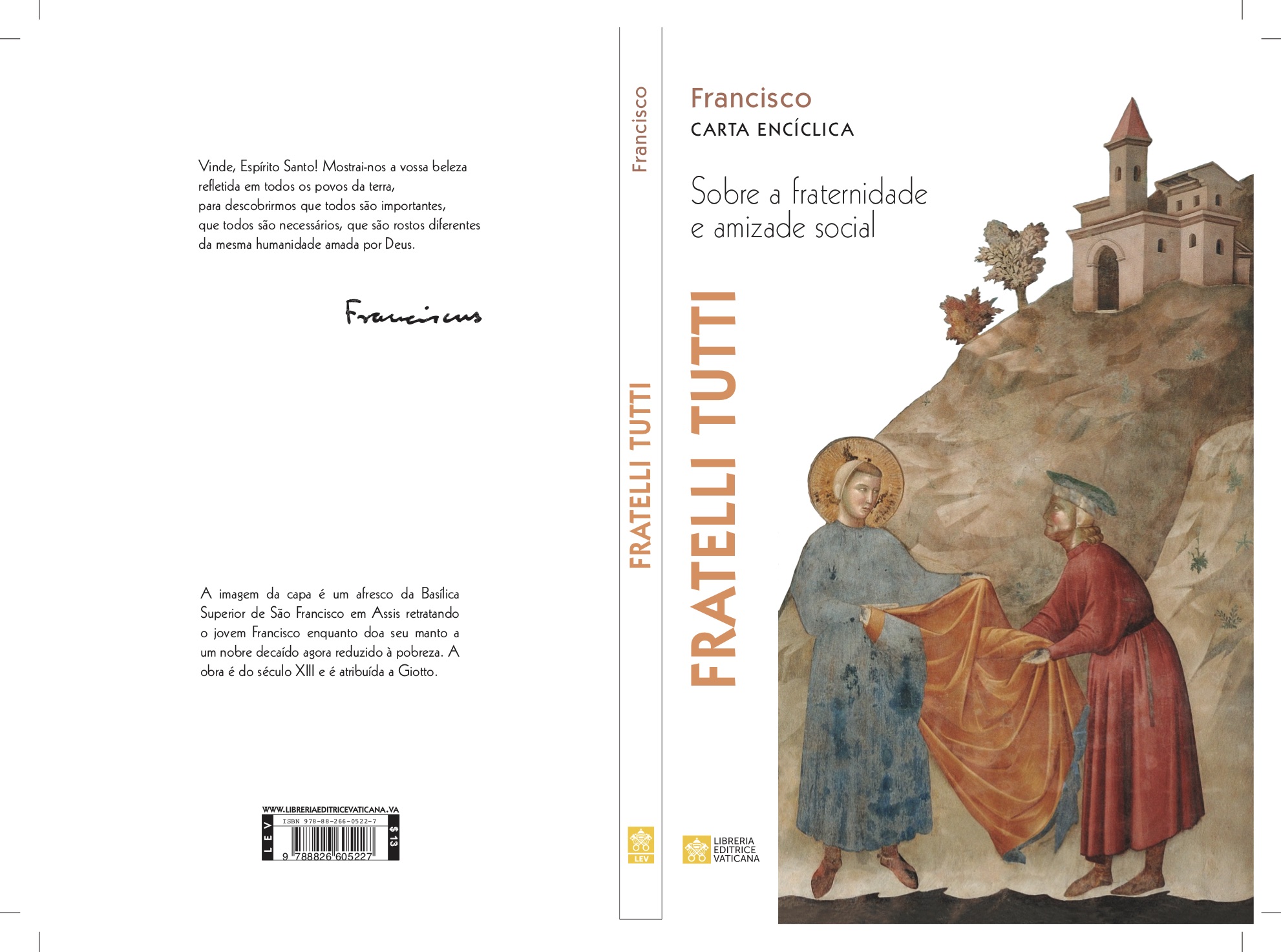 Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti