
O azul do céu, o verde das vinhas, o branco da cal sobre os “trulli”. Hoje são as cores do Vale de Itria que enchem os olhos de Manoocher Deghati. Cores muito diferentes daquelas que imprimiu no filme e gravou na sua memória em mais de quarenta anos de trabalho como fotojornalista para as mais importantes agências de notícias internacionais: o vermelho do sangue dos inocentes, o cinza escuro da fumaça dos poços de petróleo incendiados no deserto, o preto da escuridão da prisão das mulheres condenadas à morte.
Vencedor de duas World Press Photos, o óscar do fotojornalismo, Deghati começou a sua carreira durante a revolução khomeinista no Irão, país onde nasceu há 65 anos. Exilado, em seguida tornou-se um cidadão do mundo por profissão, narrando com imagens as principais crises das últimas décadas. Hoje vive numa aldeia de antigos “trulli” entre Bari e Taranto (Itália), que ele remodelou, misturando a simpatia e os aromas do campo da Apúlia com a gentileza e os aromas da sua terra natal. «Aqui sinto-me em casa», diz enquanto oferece aos hóspedes uma chávena de chá preto e gengibre, e mostra a série de rosários — «nem todos são cristãos», explica, indicando-os ao lado da porta do estúdio — que recolheu durante as suas inúmeras viagens: do Afeganistão ao Egito, da América Central a Sarajevo, do Iraque à Palestina... como indicam as etiquetas colocadas nas grandes caixas de plástico onde está conservado o arquivo de negativos e diapositivos.
O senhor leu a mensagem do Papa Francisco para o Dia das comunicações sociais deste ano? Fala sobre a necessidade de narrar, portanto, fala também de si.
Sim, a mensagem do Papa coincide com a minha vida. Contar histórias é a minha paixão como fotojornalista. Histórias bonitas, mas também tristes. De qualquer maneira, histórias verdadeiras, como revoluções, guerras, catástrofes naturais. A fotografia existe há 150 anos mas, como diz o Papa, o homem viveu sempre de narrações. No início, reuníamo-nos em volta de uma fogueira. Depois começamos a gravar grafites nas paredes das grutas. Agora dispomos de meios que nos permitem partilhar as nossas imagens com milhões, biliões de pessoas. Temos uma grande oportunidade e devemos saber utilizá-la para suscitar esperança, para encorajar reações positivas, ainda que tenhamos de narrar histórias horríveis. Não tem sentido contar apenas boas histórias. Mas quando se narram histórias negativas, é preciso fazê-lo para denunciar a maldade.
Esta “paixão” levou-o a arriscar a vida, como aconteceu no dia 26 de setembro de 1996 em Ramallah quando, durante os conflitos entre palestinos e soldados israelitas, o senhor foi gravemente ferido por um francoatirador.
Se és fotógrafo, para contar uma história deves estar no centro da ação. E isto tem o seu preço a pagar.
Como se narra uma história com uma fotografia?
Em primeiro lugar, é preciso interessar-se pelo que se deseja narrar. É necessário conhecer. É preciso saber por que motivo se quer contar aquilo. Isto é o mais importante. Depois, podes escolher se o queres fazer com uma única imagem, ou com uma série. Certa vez dediquei dois anos para fazer duas reportagens na Turquia para a “National Geographic”. Trabalhei lá por mais de um mês para entrar na realidade daquele país. No final, tirei quase mil rolos de filme — naquela altura, era preciso contar os rolos! — e foram publicadas trinta fotografias. À France Presse ou à Associated Press, eu prestava serviços fotográficos. Assim, eu dedicava todas as minhas energias para poder tirar “a” fotografia, aquela que podia conter todas as informações, todos os elementos necessários para que também os outros entendessem o que acontecia diante dos meus olhos. E para transmitir uma mensagem.
E qual é a sua mensagem?
Quando eu estava em zonas de guerra, sentia sempre que a minha função era denunciar o horror da guerra, pois odeio guerras. Sentia que este era o meu dever. E a fotografia é o instrumento mais eficaz para transmitir esta mensagem. É uma linguagem universal, que todos podem compreender. Não há necessidade de meios culturais específicos para entender uma imagem. Esta é a força da fotografia!
Qual é a sua relação com as pessoas que fotografa?
A relação com os outros é muito importante. Não é suficiente ir a um lugar, levantar a máquina e fazer um clique. Não é assim que funciona! É preciso deixar sempre claro quais são as tuas intenções. Se quiseres contar a história deles de modo honesto, verás que te abrirão todas as portas. Muitas vezes, especialmente em zonas de guerra, ouvi dizer: «Vai, fotografa! Mostra ao mundo como sofremos. Os teus olhos são a nossa voz!». E quando isto acontece, significa que conseguiste fazer algo realmente positivo.
Um fotógrafo de guerra pode narrar histórias positivas?
Sim, mesmo que tenha de descrever o mal, pois quando fotografa, é como se dissesse: «Este é o mal que não deve existir». Se eu não estivesse convencido disto, não teria desempenhado esta profissão. Creio, e sempre acreditei, que fotografar, contar histórias, deve ter consequências positivas para a sociedade, deve suscitar uma mudança.
Algumas das suas fotos alcançaram este objetivo.
Algo aconteceu a nível internacional, quando alguns jornais publicaram fotografias que mostravam atrocidades cometidas por regimes autoritários. Naquela altura, ninguém podia dizer que não sabia.
Como está a mudar a sua profissão?
Os jornalistas, sobretudo os fotojornalistas, assustam o poder. Ora disparam contra nós, ora prendem-nos. Mas a melhor maneira de nos impedir foi cortar o financiamento da informação: sem dinheiro não se pode viajar, não se pode ir ver. Tudo começou há mais de vinte anos, com uma decisão editorial tomada a nível mundial. Assim, hoje acontece que um jovem que, por exemplo, esteve na Síria arriscando a vida, regresse com fotografias incríveis, mas que ninguém quer publicar. «Não temos fundos», dizem. E depois vês que por um mexerico chegam a pagar até cem mil euros. Há dinheiro, mas não para a verdade.
Também os smartphones e as redes sociais influenciaram?
Ensinei fotografia no mundo inteiro: da Guatemala ao Afeganistão, onde fundei a primeira escola de fotojornalismo, aberta inclusive às mulheres. Na verdade, sempre pensei que uma história pode ser contada melhor por aqueles que a vivem, do que por nós, enviados, que moramos em Nova Iorque ou em Paris, e que passamos lá uma semana. Hoje em dia a situação está a mudar rapidamente. A difusão dos smartphones faz com que, da Amazónia às grandes capitais europeias, haja sempre alguém pronto para tirar uma fotografia. Quando comecei a trabalhar, éramos talvez uma centena de fotojornalistas no mundo inteiro. Hoje contam-se biliões de fotógrafos. É incrível! Já não se pode esconder nada. Todos somos testemunhas. E no momento em que compartilhamos estas imagens, deixamos de ser testemunhas silenciosas. O exemplo mais recente é o assassinato de George Floyd, em Minneapolis. As imagens da sua morte não foram feitas por um profissional. No entanto, tiveram um efeito inacreditável a nível planetário, mobilizando milhões de pessoas contra o racismo. Trata-se de um bom exemplo do modo como as imagens podem mudar o mundo. E agora este poder está no bolso de todos.
Esta é a força das imagens.
Inclusive a fotografia do Papa, sozinho na praça de São Pedro, que reza pela libertação do mundo da pandemia, tem um poder extraordinário. Porque não se trata de uma imagem construída, mas é a verdade. Naquela praça, até alguns dias antes apinhada de fiéis, o Papa quis dizer com força: «Eis-me aqui. Embora não possais vir, eu estou convosco». Esta é a mensagem!
Piero Di Domenicantonio
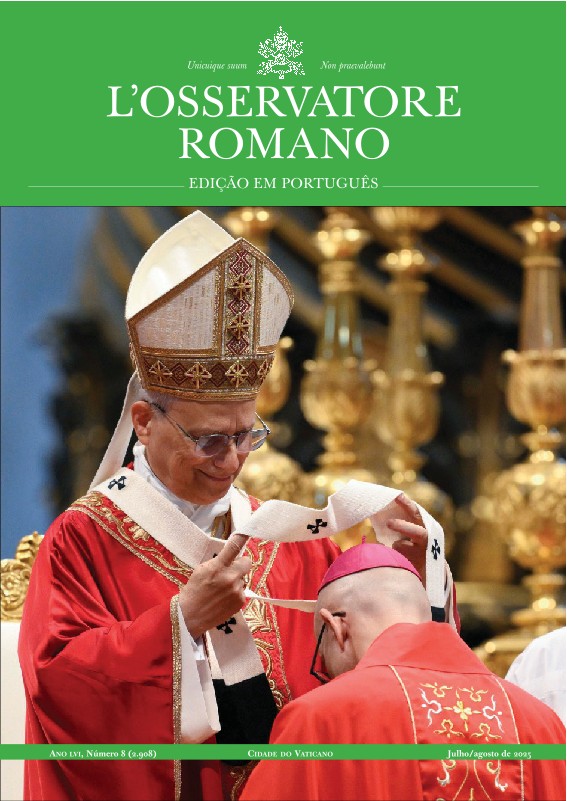



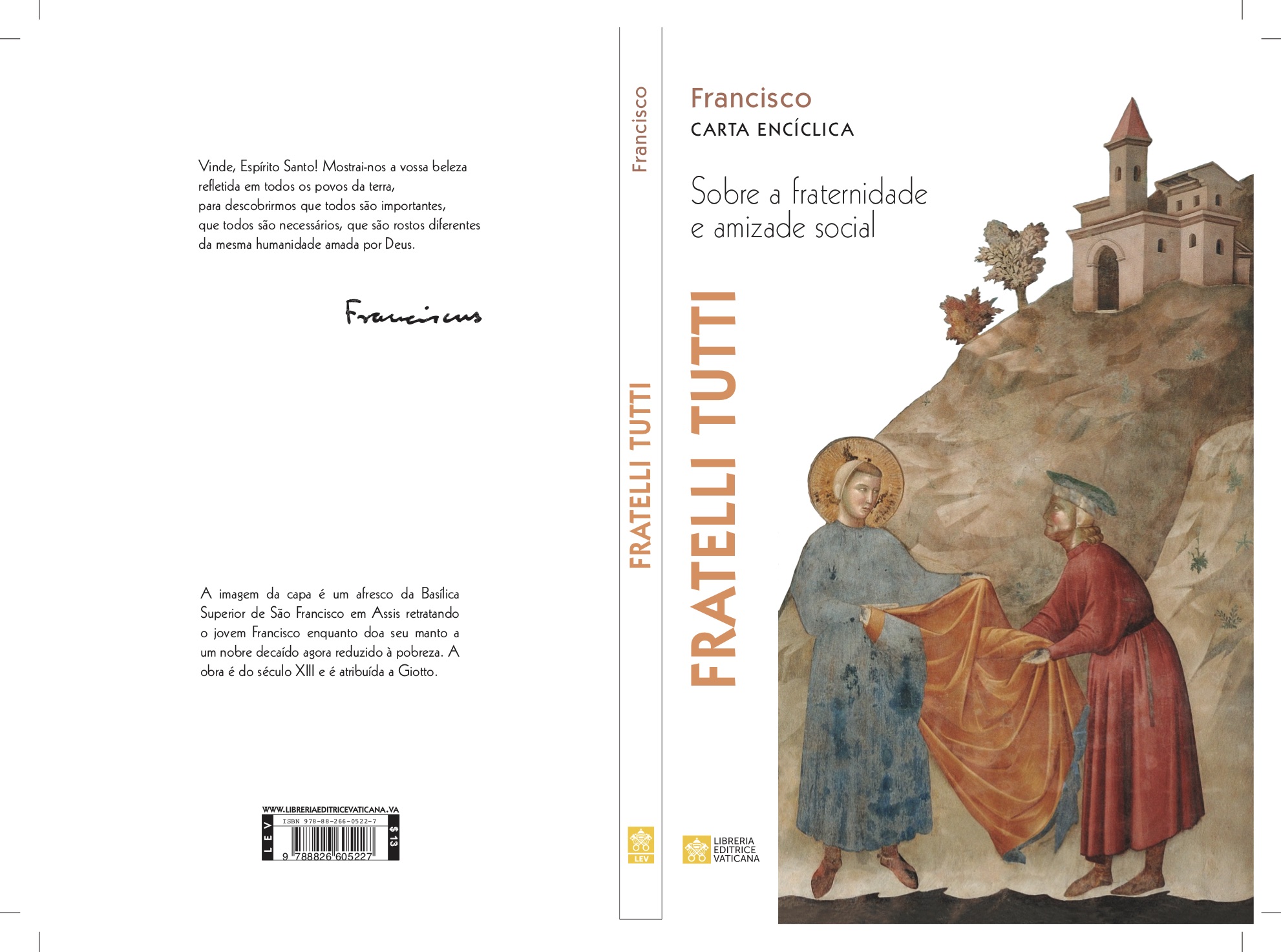 Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti