
Raniero Cantalamessa
Pregador emérito da Casa Pontifícia
Oano que agora começa marca o 17º centenário do Concílio Ecuménico de Niceia, celebrado no início de 325. O Credo sancionado por esse Concílio constitui o dado de fé que une os cristãos de todas as Igrejas: tanto as Igrejas históricas — católica, ortodoxa, luterana, calvinista, anglicana — como as várias denominações que dão pelo nome de Igrejas “Evangélicas” e “Pentecostais”1. Eis o porquê da importância ecuménica da celebração do centenário. Ela oferece-nos uma oportunidade única — que só neste momento da história podemos aproveitar — de reconhecer e celebrar juntos a fé que une todos os crentes em Cristo.
O evento oferece-nos também outra oportunidade, não menos importante do que a primeira: a de efetuar um voo de reconhecimento da fé em Cristo no mundo moderno e pós-moderno e ver em que ponto nos encontramos hoje em relação à fé de Niceia. No rescaldo de um concílio local dominado pelos opositores de Niceia (Rimini, ano 359), São Jerónimo escreveu que o mundo inteiro, nessa ocasião, «gemeu e se admirou por se encontrar ariano»2. Devemos perguntar-nos se, por acaso, não temos hoje mais razões do que então para emitir tal gemido.
1. Niceia e a divindade de Cristo
O problema fundamental de Niceia era definir o lugar que o Verbo de Deus — e, portanto, a pessoa de Jesus Cristo — ocupa no plano do ser. Ário argumentou com o esquema filosófico grego da época, que era o do “Platonismo Médio”. Este esquema era tripartido. Previa a existência de um Ser supremo, um ser intermédio (o deus-segundo, deuteros theos, correspondente ao demiurgo platónico do Timeu) e, por fim, o ser criado. Niceia operou a catarse desta visão mítica, estabelecendo uma única linha horizontal na vertical do ser: a que separa o Criador das criaturas, colocando decisivamente o Verbo do lado do Criador.
O que Niceia exige ainda hoje, pelo seu valor dogmático, é que, em todas as culturas e em todas as línguas, Jesus Cristo seja proclamado “Deus”, não num sentido derivado, mas no sentido mais forte que a palavra “Deus” tem nessa cultura, sem qualquer hiato, quer ontológico quer cronológico, entre ele e um outro Deus acima dele, entre o Deus com artigo e o Deus sem artigo, entre “Deus” e “divino”. É isto que a expressão do Credo “Deus verdadeiro de Deus verdadeiro” afirma mais claramente.
A pergunta que o centenário de Niceia nos obriga a fazer é, então, esta: que lugar ocupa Jesus Cristo na nossa cultura moderna e pós-moderna? Deixemos de lado o mundo da ficção e do espetáculo, onde Jesus Cristo continua a ser uma “Superstar”. Analisemos o que acontece nos três diálogos mais decisivos que têm lugar na nossa sociedade.
Jesus Cristo está rigorosamente ausente no diálogo entre as religiões, e não pode deixar de o estar. Os temas debatidos são a paz, a pobreza, o ambiente e, nalguns casos, as questões éticas.
Jesus Cristo está ausente, em segundo lugar, no diálogo entre a ciência e a fé. Este limita-se a discutir se o mundo teve ou não um início e um criador. A vitória da teoria do big-bang sobre o ceticismo inicial e o estabelecimento da teoria da expansão contínua do universo tornaram os cientistas menos alérgicos à ideia de Deus; mas Jesus Cristo e o problema da salvação permanecem fora do diálogo entre ciência e fé.
Jesus Cristo está ainda ausente no diálogo entre fé e razão. Esta última trata de conceitos metafísicos, não de realidades históricas e contingentes, como é Cristo na sua encarnação.
Em todos estes diálogos, o cristianismo entra com o nome de “religião” — e sabe-se como é fácil vencer a “razão” e a “ciência” quando se trata da categoria “religião”. Voltaire, Hegel, Feuerbach, Marx, Freud: todos eles saíram (ou pensaram sair) vencedores do confronto. Até que surgiu alguém que percebeu que se tratava de uma vitória de Pirro, ou melhor, de uma batalha contra moinhos de vento, porque o inimigo a vencer não é a religião, mas Jesus Cristo! Foi o que Friedrich Nietzsche se propôs fazer. A ele se deve reconhecer o “mérito” de não ter escolhido um alvo fácil — a “religião” — para os seus ataques, mas de ter identificado claramente a frente em que se trava a batalha decisiva entre a fé e o ateísmo, ou seja, a pessoa e o ensinamento de Cristo. Fez disso o objetivo da sua vida, propondo substituir a figura de Cristo pela do deus grego Dionísio.
A sua tentativa não ficou isolada, se alguém pensou em colocar Dionísio no lugar de Jesus na representação da Última Ceia nos recentes Jogos Olímpicos de Paris. As críticas de todos os lados a esta representação centraram-se nos símbolos da teoria Queer que estavam presentes na cena. Não se teve suficientemente em conta o que o autor da cenografia declarou expressamente, a saber, que a personagem central, reclinada e entronizada em primeiro plano, era o deus pagão Dionísio. A intenção declarada era a de devolver aos Jogos Olímpicos o seu carácter original de festa pagã.
A tentativa de Nietzsche de se livrar de Cristo esconde, apesar de tudo, um elemento fortemente positivo. Acaba com os álibis especulativos; desmascara as escaramuças, semelhantes às que se fazem na guerra para desviar o inimigo da frente principal. Mostra que a questão central, hoje como em Niceia, aliás como em torno do próprio Jesus, é «Mas vós, quem dizeis que eu sou?» (Mateus 16, 16). Não “Quem dizeis que Deus é?”, mas “Quem dizeis que eu sou?”. Sobre quem é Deus, podemos dar-nos ao luxo de dizer o que quisermos, mas não sobre Jesus Cristo. Ele não é uma ideia que se pode manipular como se quiser; é uma realidade “em carne e osso”. Ele ousou dizer (para nós, não importa se como homem vivo pela sua boca, ou como homem ressuscitado pela boca do seu Espírito): «Ninguém jamais viu a Deus: o Filho único, que é Deus e está no seio do Pai, é que O deu a conhecer» (João 1, 18). Cristo não toma o lugar do “Deus da religião”, mas apenas revela definitivamente o seu verdadeiro rosto.
O ano que acabou de terminar marcou também um centenário importante, o do nascimento de Immanuel Kant (22 de abril de 1724), o filósofo da razão pura e da razão prática. Ele excluiu a demonstração racional da existência de Deus das possibilidades da razão pura e atribuiu essa tarefa à razão prática. Podemos concordar com ele, desde que consideremos a pessoa de Jesus Cristo — e não o “imperativo moral” — a verdadeira e mais forte “razão prática” (isto é, não especulativa!) para acreditar em Deus. A fé cristã nasce da descoberta do dom, não da consciência do dever. (Nem, aliás, da «consciência do pecado», como defendia Kierkegaard). A consciência moral é certamente um argumento a favor da razoabilidade da crença: a única coisa que, evidentemente, interessava a Kant como filósofo; contudo ainda não é o seu início. «A consciência moral dentro de si» (juntamente com “o céu estrelado acima de si”), encheu a alma do próprio Kant de «admiração e veneração sempre novas e crescentes»3. Mas ainda não de fé!
2. Niceia e a Trindade de Deus
Convocado para definir o estatuto ontológico de Cristo e o seu lugar na fé da Igreja, o Concílio de Niceia acabou por alcançar um resultado se possível ainda mais importante e decisivo: o de definir a própria ideia do Deus cristão. Niceia marca a transição do monoteísmo estrito do Antigo Testamento para o monoteísmo trinitário. Não marca o momento do nascimento da fé na Trindade: a fórmula batismal de Mateus 28 e o próprio símbolo apostólico anterior a Niceia já a continham. É apenas o momento da sua consciencialização e formulação dogmática. Não foi necessário convocar posteriormente outro concílio para definir o dogma da Trindade: o concílio de Niceia tinha-o feito, explicitado, para o Espírito Santo, pelo de Constantinopla em 381.
A Divindade de Cristo e a Trindade de Deus são dois mistérios inseparáveis, duas portas que se abrem ou se fecham juntas. Se Cristo não é Deus, por quem seria formada a Trindade? A prova disso está nos factos. Logo que se coloca entre parêntesis a divindade de Cristo, o horizonte trinitário também se desvanece. Bultmann escreveu: «A fórmula “Cristo é Deus” é falsa em todos os sentidos quando “Deus” é considerado como um ser objetivável, quer seja entendido segundo Ário ou segundo Niceia, no sentido ortodoxo ou liberal. É correto se “Deus” for entendido como o acontecimento da realização divina»4. Em palavras menos veladas: Cristo não é Deus, mas em Cristo há (ou atua) Deus.
Continuando na esteira da desmitificação que ele tinha traçado, nos anos 70, um conhecido (e, noutros aspetos, meritório) teólogo católico escrevia: «Os conceitos míticos de então sobre a existência celestial, pré-temporal e extraterrestre de um ser emanado de Deus, em volta de um “teo-drama” representado por duas (ou até três) personagens divinas, já não podem ser nossas... A fé monoteísta, herdada de Israel e partilhada com o Islão, não deve extinguir-se em nenhuma doutrina trinitária. Não há outro deus fora de Deus!»5.
A intenção — favorecer o diálogo inter-religioso — era boa, mas os meios eram terrivelmente errados. Ao rejeitar a ideia de um ser intermédio entre Deus e a criação, Niceia foi, ela própria, o primeiro e mais ilustre caso de desmitologização! Pensar em tornar o cristianismo mais aceitável colocando a Trindade entre parêntesis é como pensar que um atleta pode correr mais depressa se lhe retirarmos a coluna vertebral do corpo!
O meio pelo qual se conciliou a fé na divindade de Cristo com o inalienável monoteísmo bíblico não foi o termo filosófico “consubstancial” (homoousios). Este facto afirmou-se mais tarde na discussão, visto o medo que incutiu no partido de Ário. Santo Atanásio utilizou-o mais tarde com muita discrição, embora, pela sua novidade e exatidão, se tenha tornado rapidamente o “distintivo” da ortodoxia nicena. Não, isto foi conseguido sobretudo apoiando-se no facto de que Cristo é, sim, a Palavra «pela qual todas as coisas foram feitas» (Jo 1, 3), mas é antes de mais o «Filho de Deus» e, como tal, «gerado, não criado» (“genitum non factum”). Chegar a esta distinção entre ser gerado (gennetos) e ser criado (genetos: apenas uma letra de diferença em grego!) foi a conquista mais difícil e mais decisiva da fé cristã no plano do ser. Contrariamente ao que pensava Adolf Harnack, Niceia não é a helenização do cristianismo na sua fase mais aguda, mas sim a sua crise e a sua superação.
Deste ponto de vista, Atanásio e o partido ortodoxo tiveram de lutar em duas frentes: não só contra Ário e os seus, mas também contra o imperador. Quem conhece os acontecimentos históricos que precederam, acompanharam e se seguiram ao concílio sabe a resistência que Constantino e o seu teólogo pessoal Eusébio de Cesareia opuseram ao abandono do rígido monoteísmo veterotestamentário. Alguns dos cinco exílios de Atanásio deveram-se exatamente a esta razão. O motivo subjacente não era apenas teológico, mas também político. O monoteísmo rígido do Antigo Testamento fornecia um modelo e uma justificação muito mais fortes para o poder absoluto do imperador! Erich Peterson escreveu um ensaio clássico sobre o assunto, intitulado O monoteísmo como problema político (Leipzig, 1935).
O cristianismo também professa, portanto, a unidade de Deus. Não uma unidade numérica, mas algo de infinitamente mais belo. É habitualmente chamada “unidade de substância”; mas o seu verdadeiro nome é unidade de amor, porque Deus “é” amor (1 Jo 4, 8). Ela é a única unidade que pode servir de modelo à unidade, não só da Igreja, mas de todas as comunidades humanas, a começar pela unidade entre o homem e a mulher no matrimónio. Estas serão sempre e necessariamente unidades na diversidade, como é, precisamente, a unidade da Trindade. Por isso, não é verdade, citando novamente Kant, que «a doutrina da Trindade, tomada ao pé da letra, não tem relevância prática alguma»6. Ela tem-na e é vital! O poeta “metafísico” John Donne tinha razão: a Trindade é «osso para a filosofia, mas leite para a fé»7.
3. Conclusão
Todas as inúmeras iniciativas históricas, teológicas e ecuménicas que terão lugar por ocasião do centenário de Niceia serão — para Deus e para a Igreja — quase inúteis, se não servirem a finalidade para a qual Niceia serviu, ou seja, para confirmar e, se necessário, despertar nos cristãos a fé na divindade de Cristo e na Trindade de Deus.
O corpo da Igreja produziu uma vez um esforço supremo, pelo qual se elevou na fé acima de todos os sistemas humanos e de todas as resistências da razão. Depois disso, o fruto desse esforço permaneceu. A maré subiu uma vez a um nível máximo e o seu sinal permaneceu na rocha. No entanto, a revolta deve ser repetida; o sinal não é suficiente. Não basta repetir o Credo de Niceia, é preciso renovar o surto de fé que então se teve na divindade de Cristo e que não teve igual ao longo dos séculos.
O que procurei salientar tem consequências importantes para o ecumenismo cristão. Há dois ecumenismos em ação: um de fé e outro de descrença; um que reúne todos aqueles que acreditam que Jesus é o Filho de Deus e que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e um que reúne todos aqueles que apenas “interpretam” estas coisas. Um ecumenismo em que, no máximo, todos acreditam nas mesmas coisas, porque já ninguém acredita realmente em nada, no sentido forte da palavra “crer”.
A distinção fundamental dos espíritos, na esfera da fé, já não é a que distingue católicos, ortodoxos e protestantes, mas a que distingue os que acreditam em Cristo Filho de Deus e os que não acreditam. Houve um tempo em que a fé de Niceia resistiu, pode-se dizer, no coração de um único homem, Atanásio de Alexandria; mas foi o suficiente para que ela sobrevivesse e retomasse vitoriosamente o seu caminho. Ainda hoje, alguns crentes, dispostos a apostar a sua vida nesta fé, podem fazer muito para inverter a tendência atual que consiste em raciocinar sobre Deus «etsi Christus non daretur». Ou, pior ainda, tentar, desajeitadamente, substituir Cristo por Dionísio!
1Ver a coletânea de ensaios Evangelicals and Nicene Faith. Reclaiming the Apostolic Witness, editado por Timothy George, Grand Rapids, mi, 2011.
2 Dialogus contra Luciferianos, 19.
3 Kant’s Gesammelte Schriften, v , p. 161.
4 R. Bultmann, Glauben und Verstehen, ii, Tübingen 1938, p. 258.
5 H. Küng, Essere cristiani, Milão 1976, pp. 505 e 540.
6 O Conflito das faculdades, Apêndice ii , 1, a.
7 John Donne, A Litany, 4: The Trinity (“bones to philosophy, but milk to faith”).









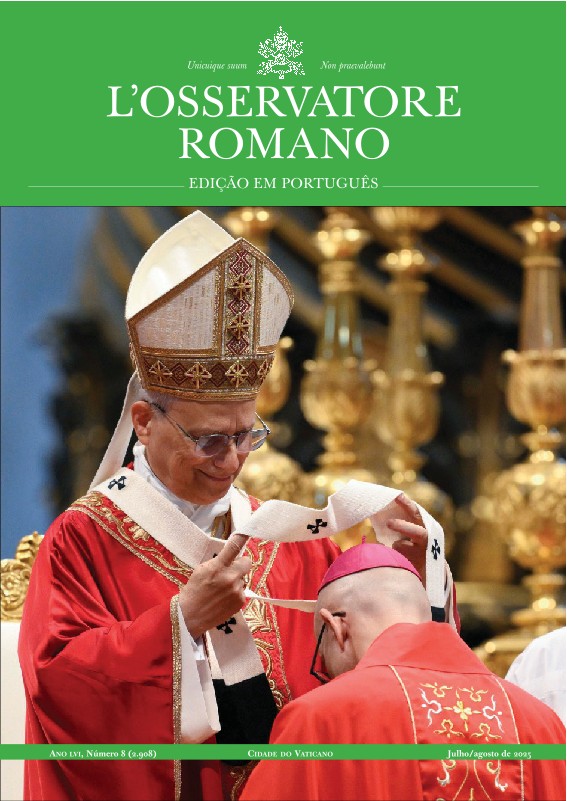



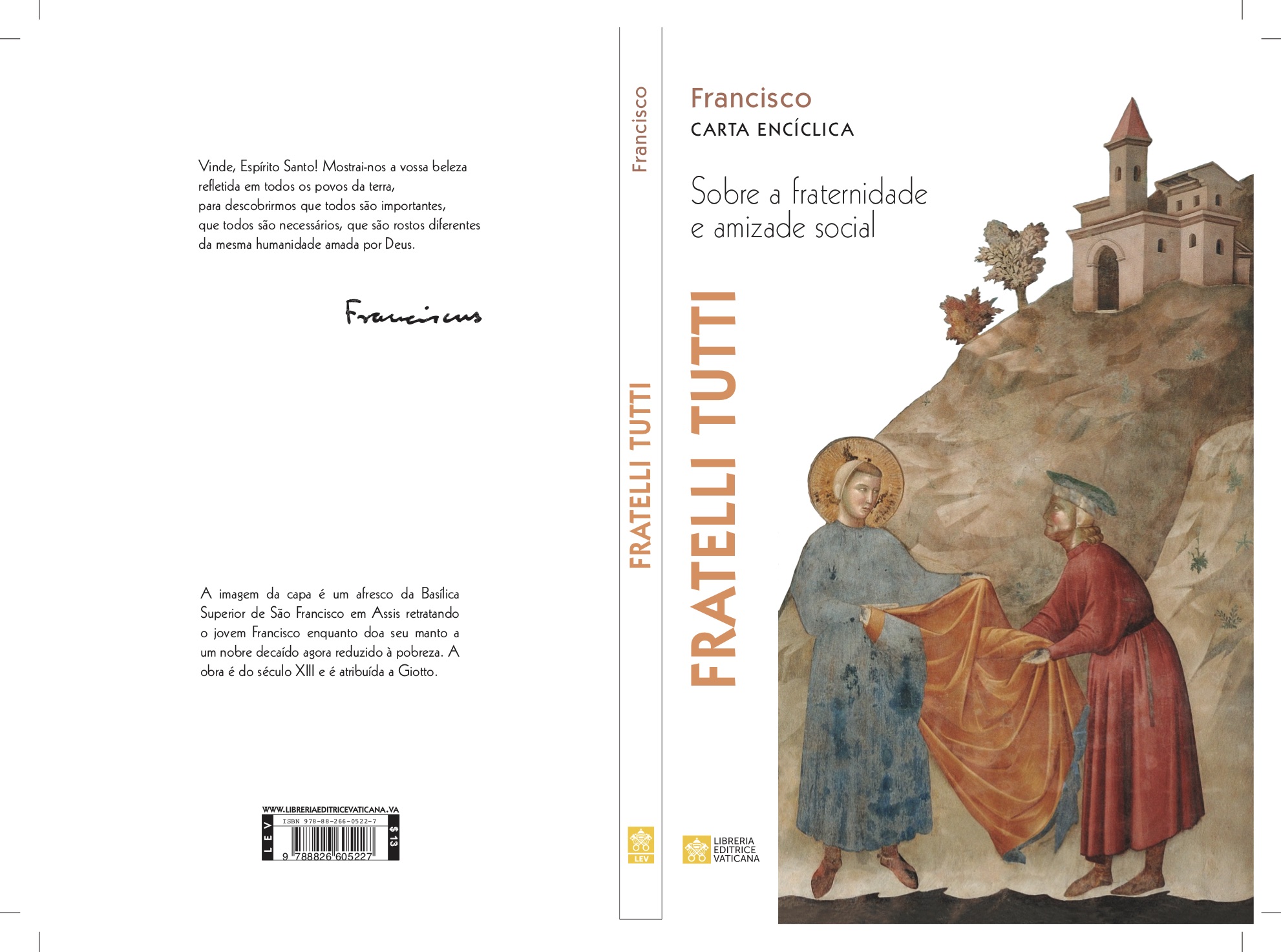 Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
