Pés no chão

Há uma pergunta dirigida a todos, e não apenas aos chamados políticos profissionais, no discurso do Papa Francisco em Trieste. O que é para nós a política? E, ligada a ela, há outra, aliás, duas: o que é a democracia? E qual é o papel de todos, e portanto também dos cristãos, dos católicos, na crise das democracias? Não são perguntas de escola. Antes pelo contrário.
De facto, pedem-nos que saiamos daquele excesso de abstração em que muitas vezes nos refugiamos quando reduzimos a política a um jogo de poder, a uma aritmética, ou a uma topografia, à ocupação de posições de comando; e quando transformamos a democracia num manual frio das regras que regem este jogo que muitos de nós — erradamente — consideramos ser de outrem. A verdade é que, ao pretendermos ser meros espetadores, em vez de atores (possíveis protagonistas do progresso em direção ao bem comum), ficando a assistir da varanda, acabamos por agir como Pôncio Pilatos; e o facto de lavarmos as mãos acaba por agravar tanto a crise da política como a da democracia; e com elas o nosso destino.
A resposta do Papa Francisco é diferente, é concreta. E na hora da crise, ele não fala em esquemas abstratos; mas desafia-nos a um exame de consciência, tanto pessoal como coletivo. Como indivíduos e como povo. Que jogo estamos a fazer? Se a política e a democracia não dizem respeito apenas a alguns (os outros: os que votam, os que governam, os que se opõem, os que militam, os que saem à rua); se afetam cada um de nós, a nossa vida, as nossas escolhas, e não apenas no momento do voto, se tudo está interligado; que jogo estamos a fazer?
As perguntas do Papa são dirigidas a nós; e fazem-nos descer à terra. São concretas. Como a caridade de que a política — como Francisco repete citando os seus antecessores — é a forma mais elevada. Fazem explodir os esquemas construídos das polarizações. Adotam um paradigma que só a miopia do nosso tempo não considera político. O paradigma do amor, que exige participação, que inclui tudo, “que não se contenta em tratar os efeitos, mas procura enfrentar as causas. E é uma forma de caridade que permite à política estar à altura das suas responsabilidades e afastar-se das polarizações”.
Que lugar tem a caridade, o amor pelos outros, no nosso raciocínio político? A caridade — como salienta o Papa — é concreta. É inclusiva. Conhece-nos por nome. Chama-nos pelo nome para assumirmos a nossa responsabilidade pessoal no caminho para um desenvolvimento mais humano.
Envolve-nos na construção de uma alternativa à atrofia moral da dinâmica do descarte. É o único verdadeiro antídoto contra o cancro que corrói a política e as democracias, que se alimenta do ódio e da indiferença. Cabe a cada um de nós não reduzir a política, de que todos precisamos, a uma soma de números, de percentagens. A uma “caixa vazia” a ser enchida.
Cabe a cada um de nós devolver a esperança, a profecia de um futuro a construir juntos, todos juntos; a beleza de partilhar projetos e histórias na tecelagem do bem comum. A política — disse-nos o Papa — é “participação”. É “cuidar do todo”. É “pensar em si mesmo como povo e não como eu ou o meu clã, a minha família, os meus amigos”. “Não é populismo. Não, é outra coisa”.
A participação é responsável; o populismo, pelo contrário, anula a responsabilidade, que é individual, na indistinção da massa. Pensar em grande, arregaçar as mangas para fazer grandes coisas, em conjunto. É esta a tarefa dos católicos na política.
Pés no chão, mas grandes ideais. Idealistas com um grande sentido da realidade e dos limites; conscientes de que podem mudar a realidade. Passo a passo. Num caminho que continua sempre. Sem transformar o caminho — como dizia o padre Primo Mazzolari — num ponto de chegada e de posse.
«Uma fé autêntica», escreve o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, «implica sempre um profundo desejo de mudar o mundo, de transmitir valores, de deixar algo melhor depois da nossa passagem pela terra».
O padre Primo Mazzolari traduziu tudo isto convidando-nos a olhar para cima: não para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro, mas para cima. Começando por ser homens novos em vez de aventureiros do novo. Homens e mulheres capazes de assumir e honrar livremente um compromisso, em vez de agir como Pôncio Pilatos. Que não ficam à margem da luta pela justiça. Que não transformam a paixão em rancor, a justiça num ajuste de contas sumário; que não negam os fins com os meios; que não se rendem à cultura da hipérbole, que não pregam soluções mágicas; que não renunciam à regra da caridade na política. Homens e mulheres que não se iludam com a possibilidade de construir o céu na terra, que não confundam a política com o desafio de um momento de quem ganha e quem perde, mas a vivam como um caminho a que todos somos chamados. Um apelo a fazer sempre melhor.
As palavras de Aldo Moro, quando era um jovem professor universitário, vêm-me à mente como medida para o nosso exame de consciência: “Provavelmente, apesar de tudo, a evolução histórica, da qual teremos sido os determinantes, não satisfará as nossas exigências ideais; a esplêndida promessa, que parece estar contida na força e na beleza intrínsecas desses ideais, não será cumprida. Isto significa que os homens terão sempre de permanecer perante a lei e o Estado numa posição de pessimismo mais ou menos agudo.
E a sua dor nunca será totalmente consolada. Mas esta insatisfação, esta dor, é a própria insatisfação do homem com a sua vida, que é demasiadas vezes mais estreita e mesquinha do que a sua beleza ideal parece legitimamente levar a esperar. É a dor do homem que encontra continuamente tudo mais pequeno do que gostaria, cuja vida é tão diferente do ideal vago no seu sonho.
É uma dor que não cede, a não ser um pouco, quando é confessada a almas que sabem compreender ou que cantaram na arte, ou quando a força de uma fé ou a beleza da natureza dissolvem essa angústia e lhe restituem a paz. Talvez o destino do homem não seja realizar plenamente a justiça, mas ter sempre fome e sede de justiça. Mas é sempre um grande destino”.
Paolo Ruffini









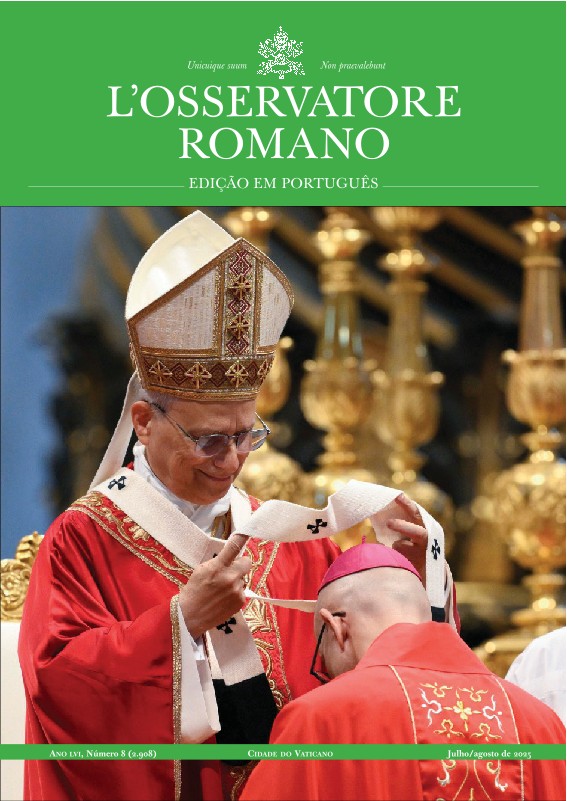



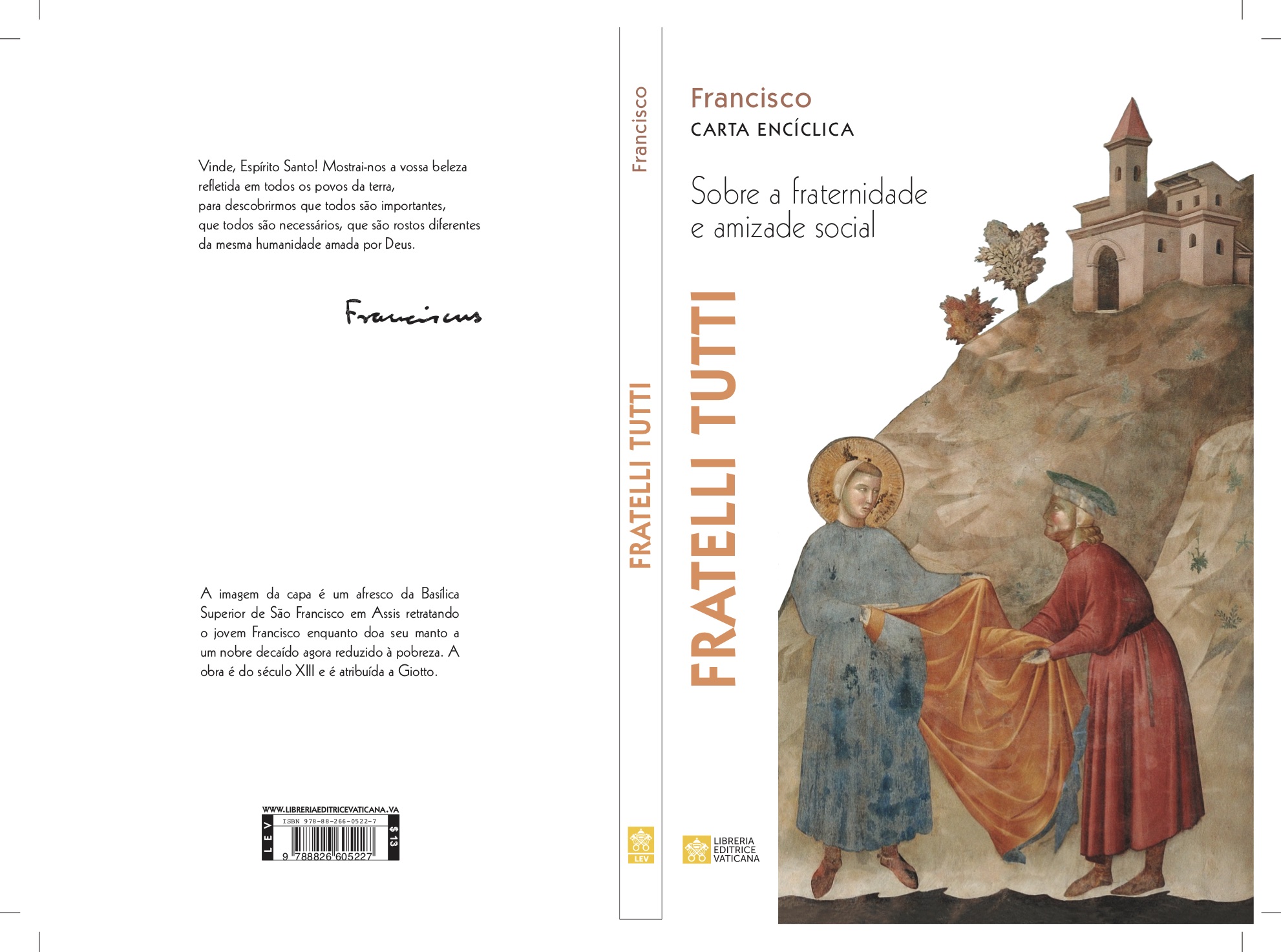 Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
