
«Vim aqui para lhe agradecer o testemunho e para prestar homenagem ao povo martirizado pela loucura do populismo nazista. E com sinceridade repito-lhe as palavras que proferi de coração diante do Yad Vashem e que repito diante de cada pessoa que, como a senhora, sofreu tanto por causa disto: perdão, Senhor, em nome da humanidade».
O Santo Padre está prestes a levantar-se para se despedir, depois de mais de uma hora de conversa com Edith Bruck, mas antes de ir embora quer explicar as razões que o levaram a ir visitá-la e repetir o conceito que é a base da sua última carta encíclica: «Somos todos irmãos, até quando, por vezes, Caim se esquece disto, como aconteceu no século xx». «Sim, verifica-se com frequência, ainda hoje», suspira Edith enquanto olha para Francisco e acrescenta: «Até quando será assim?». O Papa fitou-a e respondeu: «A senhora está a lutar por isto... e não é pouco». A imagem que sobressai frequentemente nesta longa conversa é a da gota no mar, uma pequena coisa, mas o imenso mar é feito de infinitas pequenas coisas.
Mas, vamos rebobinar a fita e voltar um pouco atrás, ao início, porque cada história pode não ter um fim (esta com certeza) mas tem sempre um começo. E tudo começa aqui, nas páginas de «L’Osservatore Romano» de 26 de janeiro. Por iniciativa de Giulia Galeotti, responsável do Serviço Cultural, foi publicada uma entrevista a Edith Bruck concedida a Francesca Romana de’ Angelis para a capa do suplemento semanal QuattroPagine. O Papa leu-a e ficou impressionado, fez-me saber que queria conhecer esta senhora. Comecei a organizar a visita de Edith Bruck ao Vaticano e informei o Papa, que me telefonou e disse: «Não percebeu, diretor, ela não deve vir, sou eu que visitarei a Sra. Bruck em sua casa, se possível». Bem, o que posso dizer: invertendo a ordem dos fatores, o resultado muda, de facto! Cancelo tudo o que tinha feito e reorganizo a visita do Papa à casa de Edith Bruck.
E aqui estamos: o Santo Padre e eu, numa tarde de sábado já primaveril, numa rua cheia de gente no centro de Roma, subimos os dois andares para chegar à casa de Edith Bruck. Ela está ali, no limiar e praticamente não consegue falar, «sinto-me emocionada e honrada», tenta dizer, mas a palavra mais compreensível (o resto são «suspiros inexprimíveis») que lhe sai repetidamente da boca, tanto da dela como da do Papa, é um: «obrigado». Ela agradece-lhe por estar ali, agora, ele agradece-lhe por ter testemunhado sempre com a sua presença, com a sua palavra, com a sua vida. Edith pediu desculpa por todo este choro e tremor e, com dificuldade, procura recompor-se e abrir caminho ao Papa ao longo do corredor que conduzia ao salão onde os seus entes queridos mais próximos estavam reunidos: Deborah, filha da sua irmã Judit, também sobrevivente ao horror dos campos de concentração («se não nos tivéssemos abraçado e encorajado mutuamente nunca teríamos conseguido»), com o seu marido Lucio e o outro sobrinho, pela parte do seu marido, Marco Risi (filho de Dino, o cineasta), e Olga, a senhora ucraniana que há vinte anos se ocupa de Edith e Francesca Romana, a jornalista de «L’Osservatore Romano», que deu origem a tudo. O momento no limiar da porta foi o de maior intensidade emocional e, como muitas vezes acontece, não houve “verbalização”: os gestos e silêncios, os suspiros expressaram a força desse encontro. «Nunca se está preparado para os bons momentos da vida» comentou Edith, uma vez sentada no sofá, quase para se justificar pela «desordem» feliz e comovida com que acolheu a visita, «assim como nunca se está preparado para os piores momentos», acrescentou ela. E o Papa, acenando com a cabeça, respondeu prontamente: «É assim, e depois há a surpresa do que nasce de dentro, do nosso coração».
A surpresa é o tom, a cor, que se lê nos rostos das poucas pessoas que nesta sala se encontram a viver, quase incrédulas, um momento especial pela sua esplêndida normalidade e simplicidade. Primeiro houve a troca de dons, porque o Papa não veio de mãos vazias, mas quis levar dois pequenos presentes: uma menorá, o candelabro de sete braços, e um livro, o Talmude babilónico numa versão bilingue hebraico-italiana. Edith e a sua “família” ficaram emocionadas com a delicadeza e “retribuíram” com uma mesa cheia de bolos e doces, todos “caseiros”, diz Olga com um pouco de orgulho, “e quem vem a esta casa quer sempre voltar”.
Quem sabe se o Papa voltará a esta casa, veio certamente para estar aqui, permanecer e conhecer estas pessoas. E a conversa é agradável, lenta, um “espaço” em que todos participam. A certa altura, Deborah menciona Borges, o grande poeta argentino e um grande “conversador”, porque a sobrinha de Edith viveu muitos anos em Buenos Aires, e transmite ao Papa (em espanhol) saudações de um amigo comum, o rabino Daniel Goldman. O Papa ilumina-se e começa a contar anedotas antigas e agradáveis que o ligam ao seu amigo judeu. O clima é justamente aquele, jovial, de um feliz encontro familiar com o Papa provando e apreciando o bolo de ricota (para alegria de Olga) e Edith mostrando-lhe as fotografias de família. Francisco está atento e revela que já conhece muitos detalhes dessa dramática história familiar: leu o livro Il pane perduto (O Pão Perdido) e antecipa frequentemente as palavras de Edith ao recordar aqueles cinco “pontos de luz” que iluminaram o abismo do horror em que ela foi mergulhada aos treze anos quando foi deportada para Auschwitz. «Aquele episódio do pente tocou-me o coração», disse o Papa no meio da comovedora admiração de Edith e dos demais. Aquele pente foi dado à então menina de treze anos pelo cozinheiro de Dachau que primeiro lhe perguntou qual era o seu nome («Respondi dizendo o meu nome, já não o fazia há muito tempo, pois me senti de novo uma pessoa com um nome, não um número») e depois acrescentou: «Tenho uma filha da tua idade» e «olhando para a minha cabeça com o meu cabelo que recomeçava a crescer, tirou este pente do bolso e deu-mo de presente. Tive a sensação de encontrar um ser humano à minha frente, depois de muito tempo. Fiquei comovida com aquele gesto que era vida, esperança». A mulher húngara de quase noventa anos de idade e o Pontífice argentino continuam a rever os episódios de “luz na escuridão”: a primeira em sentido cronológico que significava vida para a pequena Edith, quando foi separada à força por um soldado (que a empurrou com a cana da espingarda) da sua mãe que foi enviada para as câmaras de gás; depois, quando um soldado alemão lhe atirou o tabuleiro para que ela o lavasse, mas no qual ele tinha deixado um pouco de marmelada; e quando alguém lhe deu umas luvas, rasgadas e furadas, mas preciosas para ela, e por fim quando, como parte de um grupo de 15 jovens que tinham de levar casacos aos militares à estação, que ficava a 8 quilómetros de distância, deitou fora alguns porque não tinha forças para caminhar com aquele peso. Um soldado alemão viu e aventurou-se contra ela, mas a irmã Judit bateu-lhe fazendo-o cair no chão, nessa altura o soldado não disparou porque ficou impressionado com a coragem delas e poupou-as. Há sempre “sinais” espalhados ao longo da vida, por vezes indecifráveis no momento em que são experimentados, mas que ostentam algum sinal distintivo. Para o Papa este sinal é frequentemente ternura, aquela força que «muda as pessoas» e acrescenta, quase suspirando como que para tirar conclusões: «Quanta coragem, quanta dor». Mas Edith é quase um rio em cheia, ao ponto de por vezes parar e pedir-nos que a interrompamos, caso contrário ela transbordaria de palavras, mas depois faz questão de afirmar: «Mas afinal até tive sorte. Mesmo se agora é como se eu sentisse toda a dor do mundo». Os dois concordam sobre a importância de contar, de recordar. Tanto o bem como o mal. «Existe um livro muito importante que saiu há pouco tempo, Síndrome 1933, de Siegmund Ginzberg, que eu diria que é leitura “urgente” porque reflete, e de alguma forma explica, como foi possível todo esse mal. E como pode, por conseguinte, repetir-se».
O Papa retoma o tema que lhe é muito querido dos avós, a necessidade de ouvir as histórias dos idosos, de dialogar com eles e cita o profeta Joel: se os idosos têm sonhos, os jovens podem ter visões. E cita a avó Rosa e a história da mesinha que tem gravada na memória ainda hoje: «Havia uma família que almoçava sempre junta, incluindo o avô. Mas ele não podia comer sem deixar cair tudo e sujar-se... até que o pai decidiu que o avô devia comer sozinho na mesa da cozinha para que o resto da família pudesse convidar os amigos sem constrangimentos. Alguns dias depois, o pai vê que o filho pequeno está a mexer com pregos, martelo e tábuas de madeira... “O que estás a fazer?” pergunta-lhe, “Estou a construir a mesinha para ti, onde comerás quando fores velho”. No meio do riso e da admiração, Edith Bruck parece entristecer-se, e cheia de preocupação, confessa que tem medo «desta crise de saúde, não quero que chegue ao ponto de termos de escolher quem tratar e quem descartar. A questão é que as pessoas devem ser tratadas em casa». E enquanto o Papa recorda o risco sempre presente da cultura do descarte, Edith recorda a vicissitude do marido, Nelo Risi, e os últimos dez anos, marcados pela demência senil e pela doença de Alzheimer. «Pode parecer estranho — diz Edith — mas foram anos felizes, eu continuei a dialogar com o meu marido, a estar ao seu lado, de mãos dadas. Os médicos disseram-me que ele morreria em poucos dias, e nós continuámos assim durante mais de dez anos». «Porque o amou», acrescentou o Papa.
É bonito compreender de forma tangível os sentimentos que unem os membros desta família em volta da velha tia Edith. O Papa dirige-se a todos, a conversa alarga-se, falam de muitas coisas, sobre os jovens e os idosos, sobre o facto de que a cada minuto uma criança morre de fome e ao mesmo tempo são gastas enormes somas em armas. «O problema é o egoísmo», diz o Papa, «estender a mão não custa mas o egoísmo impede este gesto, encolhe a mão que estaria pronta para se estender para a outra».
A certa altura, fala-se de cinema. Marco Risi fala-lhe da obra-prima do seu pai Dino, “Il sorpasso” que «foi um grande sucesso no seu país, tanto que o meu pai fez outro filme na Argentina imediatamente a seguir, “Il gaucho”». «Mas eu vi Il sorpasso, um grande filme! Todas essas curvas ao longo da estrada, que vão e vêm, uma imagem poderosa da vida». Marco Risi ficou felizmente surpreendido e comentou o final amargo do filme (que De Sica teria gostado que tivesse sido diferente): «No final, o jovem morre, a inocência morre e o cinismo permanece; era o ano de 1962 e é quase uma profecia da Itália que estava a mudar». O Papa revela-se (também) um perito em cinema: «O facto é que durante anos gostei de ir ao cinema e vi praticamente todos os filmes italianos do pós-guerra, aqueles com Anna Magnani, Aldo Fabrizi, os primeiros filmes de Fellini, lembro-me de ter visto todos os seus filmes até La dolce vita. Depois, sempre nesses anos, também devido à minha agenda cheia, perdi o contacto com o cinema italiano, mas ainda estava fascinado pelos filmes de Bergman, como O Sétimo Selo, um grande realizador. Mas lembro-me bem de Il sorpasso, era incisivo... todo aquele drama contado em apenas 24 horas». Marco Risi, entre espanto e encorajamento, fala-lhe do novo filme que está a fazer, que conta a história de pessoas idosas fechadas numa casa de repouso onde chegam dois jovens, forçados a prestar serviço comunitário como expiação por condenações penais; nasce uma relação difícil e intensa. Francisco fica muito curioso, para ele este tema do diálogo entre gerações é fundamental: é preciso ser capaz de aprender com a história e, por isso, é preciso alguém que a conte. Edith Bruck retoma este tema para falar dos novos e sempre antigos fascismos e da importância de ir às escolas para contar o que aconteceu. É aqui que o Papa toma a palavra para reiterar com vigor o seu agradecimento pelo trabalho de testemunho que Edith está a realizar com a sua palavra e antes disso com a sua vida.
E assim, rebobinamos a fita, mas no coração dos que estavam presentes, ficou gravado muito mais do que as simples palavras que aqui procurámos recordar e fixar na memória.
Andrea Monda









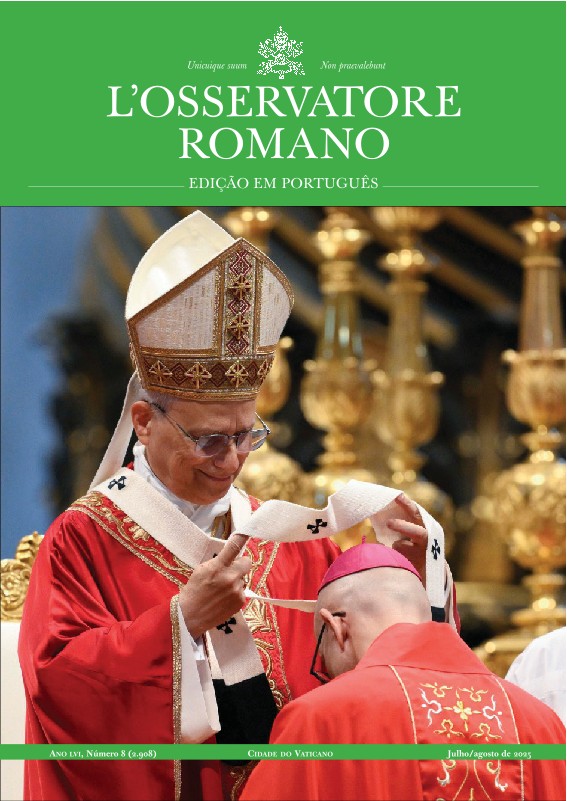



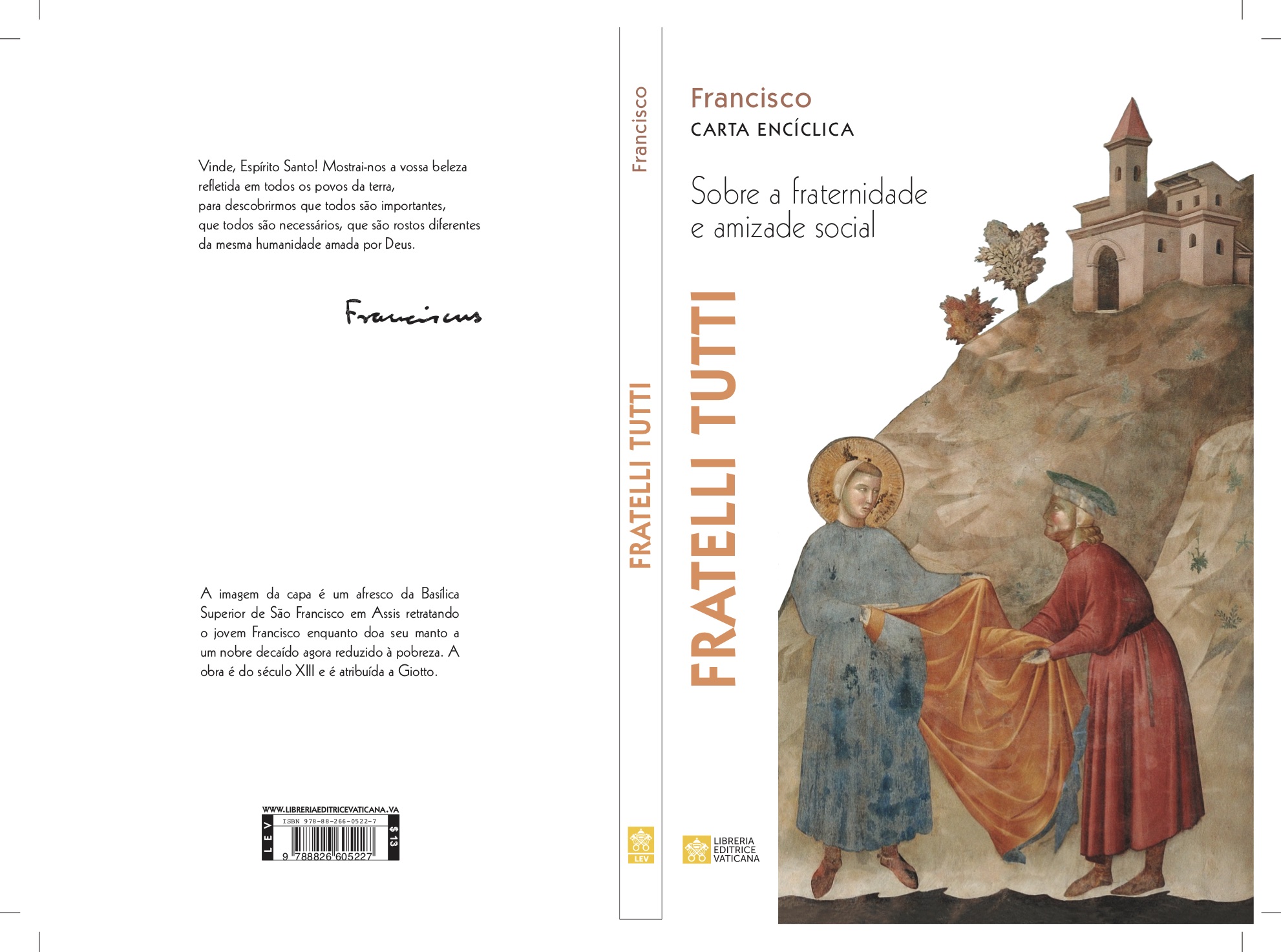 Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
