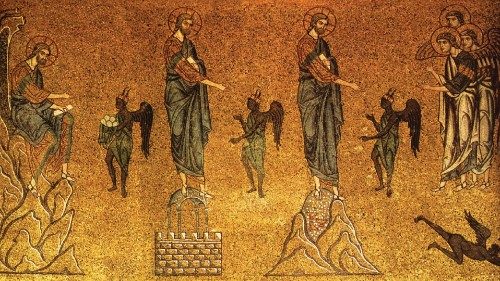
«A maior riqueza do homem é sua incompletude», escreveu o grande poeta brasileiro, nascido em Cuiabá, Manoel de Barros. E somos chamados a descobrir isso, de muitas maneiras e em estações diferentes, ao lado dos nossos irmãos. O vazio, a incompletude e até mesmo a crise são condições e oportunidades de caminho e não apenas carência e obstáculo. Para dizer isso, é necessário enxergar não só com os olhos da carne: é preciso observar o momento que vivemos com a sabedoria do coração, com aquela luz desinstaladora e profética que o Evangelho derrama na nossa existência. O que é que Deus nos está dizendo? Que mensagem o Espírito está a dirigir nas atuais circunstâncias às nossas Igrejas, como o fez com as Igrejas do Livro do Apocalipse? E com que qualidade de escuta nós estamos escutando?
A experiência devastadora da pandemia veio colocar na ordem do dia a palavra «crise». Como que nos obriga a olhar para ela, a enfrentá-la, a conviver com ela, fora e dentro de nós. E precisamos de ativar ferramentas espirituais para abordar esta crise que toca o mundo, o país, a rede das comunidades, as famílias, os indivíduos e nós próprios. Em seus discursos mais recentes, o Papa Francisco tem desenvolvido uma espécie de teologia da crise, nunca correndo o risco porém de, ao teologizar, como que esquecer os duríssimos impactos que a pandemia tem na existência de milhões de seres humanos que se veem com isto empurrados para uma situação de vulnerabilidade agravada. É muito uma teologia de pé no chão a que ele faz. Mas é uma verdadeira teologia espiritual. Porque precisamente nesta hora temos necessidade de um renovado, de um renascido vigor espiritual. Sem Deus não chegamos ao âmago misterioso deste momento e à sua superação. Como dizia João Guimarães Rosa, «minha alma tem de ser de Deus: se não, como é que ela podia ser minha?».
O crivo que limpa o grão
No discurso do fim do ano passado à Cúria romana o Santo Padre dizia: «A crise é um fenómeno que afeta tudo e todos. Presente por todo o lado e em cada período da história, envolve as ideologias, a política, a economia, a técnica, a ecologia, a religião. Trata-se de uma etapa obrigatória da história pessoal e da história social. Manifesta-se como um facto extraordinário, que provoca sempre um sentimento de trepidação, angústia, desequilíbrio e incerteza nas opções a tomar. Como lembra a raiz etimológica do verbo krinō, a crise é aquele crivo que limpa o grão de trigo depois da ceifa». Detenhamo-nos nestas palavras. A crise «manifesta-se como um facto extraordinário». E, de facto, as crises apanham-nos muitas vezes impreparados. Esta crise pandémica, por exemplo, nós a estamos vivendo como um trauma, isto é, como uma agressão que chegou quando não esperávamos. Daí os sentimentos «de trepidação, angústia, desequilíbrio e incerteza». Mas ao mesmo tempo, como recorda o Santo Padre, «se trata de uma etapa obrigatória da história pessoal e da história social». Todos nós somos afetados por crises. E de igual modo a história da comunidade humana no tempo. Não há muralha ou dique que as impeçam. Também por isso é tão necessário aprofundá-las, desconstruí-las e compreendê-las. E a sugestão da etimologia pode ser um início de caminho: o termo «crise» deriva do verbo grego «krinō», que significa «o crivo que limpa o grão de trigo depois da ceifa». A crise é, por isso, a peneira, a joeira, a ciranda, o coador, o passador, o filtro na debulha incessante da vida.
As crises são nossos mestres
Ainda sobre as crises, recordo o que escreveu a escritora Christiane Singer. Um antropólogo seu amigo teria perguntado a um indígena se eles passavam por crises depressivas como acontece aos homens das cidades. E o indígena respondeu: «Não senhor, nós não temos crises, nós temos iniciações». Nas nossas sociedades desritualizadas, onde falta uma iniciação mistagógica ao grande mistério da vida, onde escasseiam os mestres, as crises acabam por funcionar, quer em termos pessoais, quer em termos coletivos, como inesperados mestres que têm alguma coisa a ensinar-nos. A crise desoculta, desnuda, nos permite um olhar a que ainda não havíamos chegado, nos permite escutar não apenas a vida aparente, mas a insatisfação, a ferida submersa, a sede de verdade, a situação real. Isso que o Papa Francisco evocou na célebre meditação na praça de São Pedro vazia, em março passado: não foi apenas a pandemia que nos adoeceu; o mundo estava já doente e não conseguia reconhecer isso. E o Papa explicava: esta «tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades». De facto, a crise é um acelerador da revelação. Mas com isso dá-nos a possibilidade de algo muito importante: que nos escutemos e escutemos Aquele que viaja na nossa barca (cf. Mc 4, 37). Não aproveitarmos a tempestade que nos fustiga para ousarmos uma auscultação autêntica é sim desperdiçar uma preciosa ocasião para aceder àquela profundidade que pode devolver sentido e profecia à existência eclesial. Talvez precisemos descobrir que, no decurso do nosso caminho, os grandes ciclos de interrogação, a intensificação da procura, os tempos de impasse, as experiências de crise se instalam para que seja evitado o pior. E o que é o pior? Explica-o Jesus de Nazaré: o pior é ter olhado sem ver, ter ouvido sem escutar, ter captado de alguma maneira, mas não ter efetivamente entendido. O pior é fazermos do Evangelho uma oportunidade perdida: «Tocámos flauta para vós, e não dançastes! Entoámos lamentações, e não chorastes!» (Lc 7, 32). Sobre a crise, precisamos de alargar ou deslocar a perspetiva. Recordo as linhas escritas por Etty Hillesum num campo de concentração nazi, numa das horas mais críticas do século xx: «Meu Deus, esta época é demasiado dura para gente frágil como eu. Mas sei igualmente que, a seguir a este, outro tempo virá. Gostava tanto de continuar a viver para transmitir nessa nova época da história toda a humanidade que guardo dentro de mim, apesar de tudo aquilo com que convivo diariamente. Essa é também a única coisa que podemos fazer para preparar a nova estação: prepará-la já dentro de nós». Realmente há tanto a operar dentro de nós.
A história da salvação se faz com personagens em crise
Nós não estamos sozinhos, a ter de inventar tudo, mas «rodeados por tão grande nuvem de testemunhas» (Hb 12, 1). O Papa Francisco recorda muito justamente que «a própria Bíblia está povoada por pessoas que foram “passadas pelo crivo”, por “personagens em crise”, mas que, precisamente através dela, se realiza a história da salvação».
A começar pela crise de Abraão. Chamado por Deus (cf. Gn 12, 1) para viver a aventura de Fé, Abraão vai experimentá-la como desafio inesperado à descontextualização. Quando Deus toma a iniciativa, aquele homem rompe não apenas com o cenário geográfico e familiar que apoiava a sua vida, mas com o sentido disso: a segurança de uma cidadania, de um reconhecimento parental, de uma pertença. A vida dele parecia resolvida. Ora, a Fé começa por ser precisamente desafio a transcendermos a resolução individual da nossa existência ou as formas pretensamente definitivas que construímos para ela, e a nos abrirmos até ao fim ao impacto das surpresas de Deus. A Fé desinstala-nos para vivermos incessantemente na dependência de Deus, numa chamada ininterrupta a experimentar a itinerância de uma Promessa que é maior do que nós. Por isso, o nomadismo de Abraão não é apenas uma referência sociológica: é uma exigência da Fé, essa itinerância, esse desejo de que a transportemos dramaticamente pelo corpo do mundo para que ela se torne nosso próprio corpo. É assim que Abraão irá constituir um modelo de crença e o pai de todos os crentes.
A Fé de Abraão é também feita de provação. Lê-se em 1 Mac 2, 25: «Não permaneceu Abraão fiel na sua prova?». A provação é o lugar onde se fortalece aquela confiança chamada a ser radical, aquela que não repousa nas garantias ou nos sinais, mas só em Deus tem o seu fundamento. Deus tinha concedido a Abraão um filho da promessa, Isaac. A Fé, contudo, não está amarrada aos que os nossos olhos veem: em cada momento Deus é Deus e devemos ter n’Ele o nosso coração. Não é sempre a Fé essa misteriosa passagem interior em que o eu dá lugar ao Tu, ao por Ti, ao para Ti?
Kierkegaard interpretou este passo bíblico da provação de Abraão como o anúncio do absoluto de Deus. Escreve na sua obra Temor e Tremor: «A verdade não é algo externo, que descobrimos com proposições frias e impessoais, mas algo que experimentamos no nosso interior, de maneira pessoal». A Fé em Deus sobrepõe-se a todas as convenções culturais, conjunturais e a todas as lógicas puramente humanas. A Fé é essa confiança colocada em Deus e que ultrapassa tudo. Colocado diante do incompreensível desígnio de Deus, ele mantém viva a relação com Deus. E no fundo da nossa vulnerabilidade Abraão nos ensina a dizer com verdade: «O Senhor providenciará». Tão rica e desafiadora é para nós esta crise de Abraão.
Habitar a transformação
O Papa Francisco recordou, nesse discurso à Cúria, que a lista de personagens bíblicos em crise é infinda e cada um de nós pode encontrar neles o seu próprio espelho e o seu lugar. E dá o exemplo de diversas crises.
Pensemos, por exemplo, na crise de Paulo de Tarso. Paulo chega ao cristianismo em dramática contramão, quando nada o fazia prever, implicando tal uma reviravolta completa do seu destino. Não é por acaso que Lucas o descreve «caído por terra» (At 22, 7), ferido por uma cegueira funcional (como se tivesse de reaprender o que significa ver) e levado por outros, pela mão (At 22, 11); ou que a sua própria história o torne objeto de surpresa e desconcerto para os demais: «Aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía» (Gl 1, 23), diziam os cristãos da Judeia. O cristianismo começa em Paulo pela operação necessária de reinstauração do sujeito crente. Assim, a lição de Paulo é que cristãos não somos, mas sim nos tornamos, obrigando-nos a romper com o conformismo teológico de um cristianismo encarado como dado adquirido, que se dá meramente por descontado, como se ser cristão fosse a coisa mais óbvia deste mundo. Pelo contrário: o crer passa com Paulo a ser regido e modalizado por uma experiência de transformação. Como escreve ele na segunda Carta aos Coríntios: «Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados (metamorphoumetha) nesta imagem» (2 Cor 3, 18).
A eloquente crise de Jesus
Quando a ideia de crise nos afligir e desalentar, é bom pensar naquilo de que o Papa Francisco faz memória: a crise maior e mais eloquente não é a nossa, mas a de Jesus. Basta pensar na experiência da crise vivida nas tentações, e como elas iluminam agudamente o nosso presente. As tentações que os evangelhos nos contam que Ele enfrentou certamente não aconteceram apenas numa jornada só. Acompanharam o arco da sua existência. Creio que podemos imaginar, sem muitas fantasias, as vozes contrastadas que Ele terá ouvido ao longo da sua vida, as pressões que sentiu, o conflito interior, as encruzilhadas dilemáticas, o insustentável peso das expectativas de quem o queria para rei, para curandeiro, para tapa-buracos à mão de manobrar, para messias fácil, etc. As três grandes formulações que surgem no relato das tentações resumem o que Jesus foi sofrendo, e ao mesmo tempo sinalizam aquelas turbulências fundamentais que são comuns à condição humana e também a este momento histórico que atravessamos.
As limitações da atual crise pandémica fazem-nos como que sondar um sentido (ou uma possibilidade de construção de sentido) que não nos deve escapar. E um sentido — atrevo-me a dizer — “cristológico”, que não só não sai diminuído nesta dramática reductio que se abateu sobre o presente, mas que nos permite mesmo mergulhar, porventura com outra intensidade, no âmago da fé no Crucificado. Pois o sentimento que largos milhões de mulheres e de homens provam nesta hora é, nada menos, que uma radical expropriação da sua humanidade aconteceu. O elenco e a natureza das coisas que nos estão vedadas é impressionante e isso representa um empobrecimento brutal da vida. Pensar que estão suspensas dimensões tão elementares como a proximidade entre nós humanos, a visitação, a experiência comunitária, o convívio, o contacto físico com que se expressam os afetos. Pensar que não podemos acompanhar os doentes como até aqui o fazíamos e que estão reduzidas as humaníssimas práticas do luto. Ou, então, como nestes meses, disparou o desemprego, a precariedade, a pobreza e a solidão.
Quando nos damos conta do que está a acontecer é impossível não se sentir expropriado de algo que é (ou deveria ser) universalmente sagrado. Ora, esta confiscação da existência é a condição vivida na primeira pessoa por Aquele que foi suspenso da cruz. Por isso, nenhuma dor, nenhum pranto, nenhum medo, nenhum confinamento humano lhe é verdadeiramente indiferente. A cruz de Cristo expressa de um modo escandalosamente novo o espaço de Deus no mundo. Pois, o confinamento do homem revela o não-confinamento de um Deus que parte ao encontro de todos e abraça a todos, carregando sobre si as dores do mundo. Deus não está distanciado, indiferente à história e às suas convulsões. Deus não esquece ninguém. A cruz nos ensina a solidariedade extrema de Deus, mostra até onde ele está disposto a ir para colocar a salvo cada vida. Somos desafiados a reconhecer e a amar o ícone do Crucificado na concreta expressão da existência dos nossos semelhantes.
José Tolentino de Mendonça
Cardeal arquivista e bibliotecário da santa Igreja romana









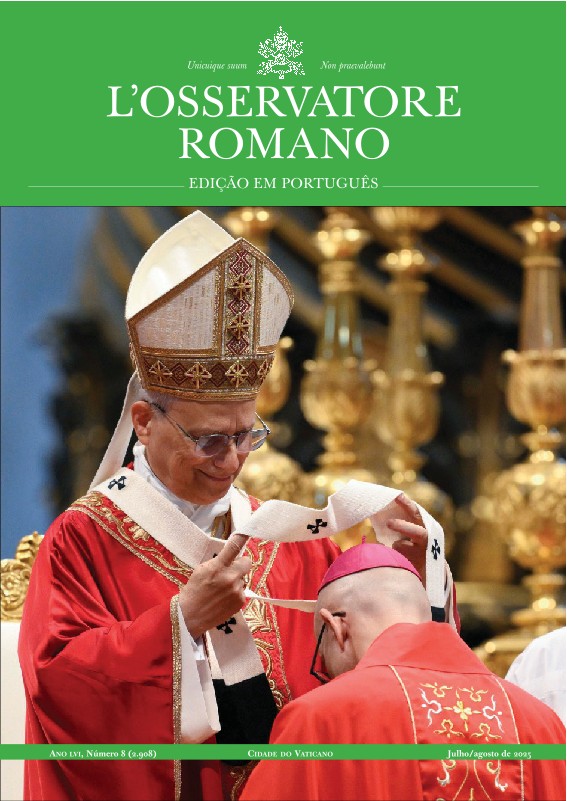



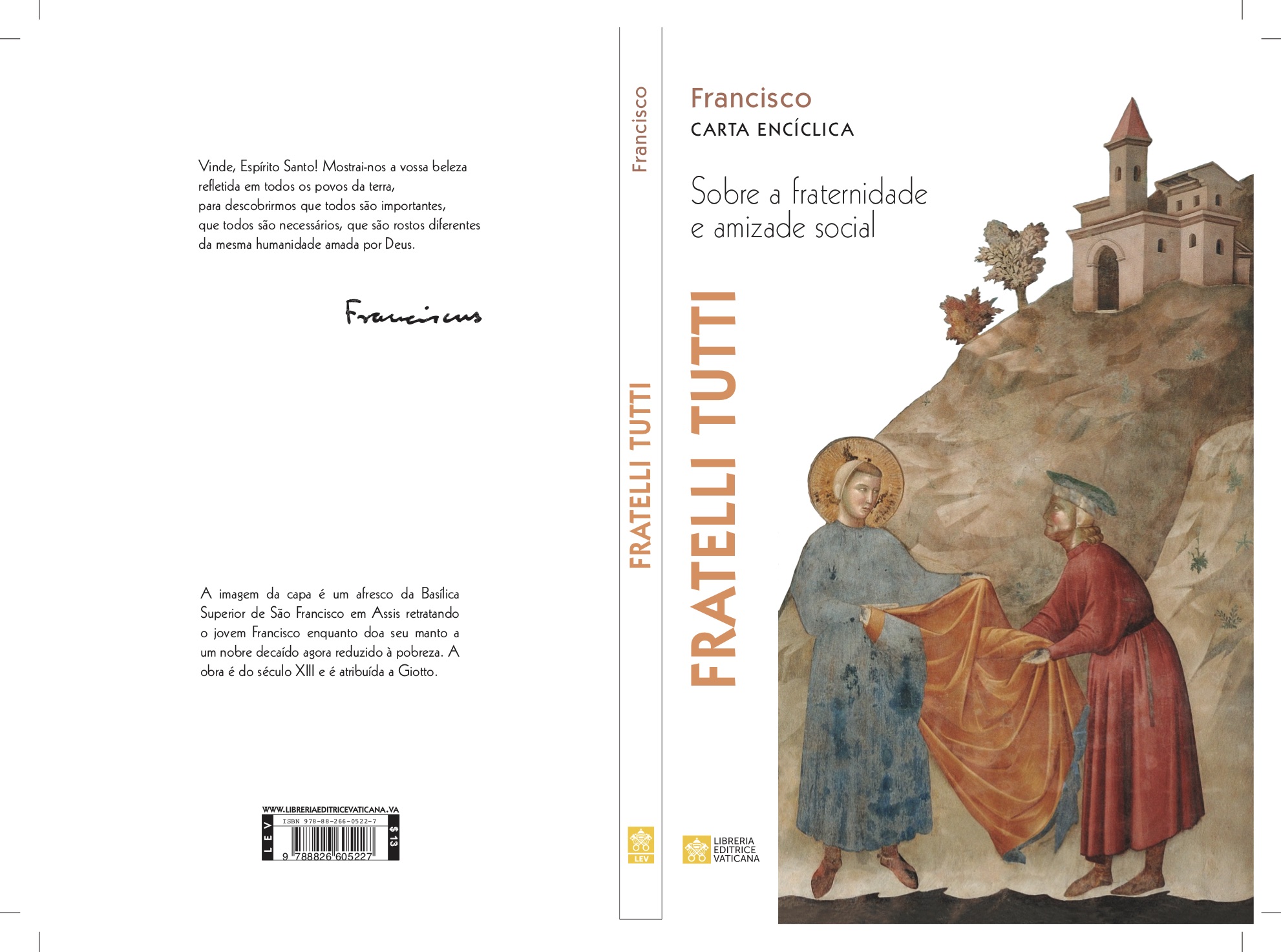 Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
