
Maureen ficou presa durante quatro anos. Porque era negra. Foi espancada e torturada, e o seu marido foi baleado duas vezes. Ela conta a história e, entretanto, mostra as marcas que levará no seu corpo para sempre. Ela conta-o, mesmo que isso a faça sofrer. Para não esquecer e para que os outros não o façam.
Maureen, o seu marido e a sua família estão entre os milhões de vítimas do regime do apartheid sul-africano que, vinte e cinco anos após as primeiras eleições livres em 1994, continuam a levar a cabo uma árdua jornada de cura da memória e reconciliação, na qual as mulheres estão frequentemente na linha da frente. São-no especialmente nas comunidades, onde realizam um trabalho fundamental de “intercessão”, promovendo processos de justiça redentora, na sequência do trabalho realizado pela Comissão Verdade e Reconciliação. Estes processos requerem muito tempo, esforço e dor, mas são indispensáveis para transformar uma sociedade profundamente ferida pela opressão e repressão numa sociedade baseada na democracia, justiça, respeito pelos direitos humanos e reconhecimento da dignidade de cada pessoa. Uma sociedade na qual as vítimas possam encontrar a força para perdoar — como Nelson Mandela continuamente reiterava — mas também para não esquecer.
«Oh, o perdão, como é difícil o perdão», refletia Annalena Tonelli, que, na Somália — devastada pela guerra e fome, fundamentalismo e ignorância – nunca desistiu, até ser morta por alguns jovens extremistas em outubro de 2003. «Todos os dias no nosso Centro antituberculose em Borama, não tratamos só doenças do corpo, mas trabalhamos pela paz, pela compreensão, para aprender juntos a perdoar». Trabalhava muito com as mulheres, Annalena, e com elas conduzia «a batalha de cada dia antes de tudo com o que nos mantém escravos dentro, o que nos mantém no escuro». Profunda conhecedora da sociedade somali, ela sabia muito bem que a luta contra a opressão dos mais fortes e a arrogância das armas, mas também contra o fatalismo e a instrumentalização da religião só podia ser combatida com as mulheres. Para tornar todos os homens livres.
Há muitas situações, em todas as partes de África, em que as mulheres são protagonistas — muitas vezes anónimas e pouco reconhecidas — dos processos de resistência e resiliência, cura e regeneração: contextos de conflito ou crise, campos de refugiados ou migração forçada, desastres climáticos ou injustiça social. Conseguiram romper o muro da inviolabilidade, tornando-se exemplos, mesmo a nível global, de um compromisso — que exige uma renovação constante — com a paz, a justiça, a reconciliação e a cura das feridas da alma.
E talvez não seja coincidência que — depois dos sul-africanos Tutu, Mandela e De Klerk — os sucessivos vencedores do Prémio Nobel da Paz em África tenham sido algumas mulheres. A primeira foi a queniana Wangari Maahtai, em 2004, comprometida na causa ambiental e de género. Enquanto, em 2011, foi a vez de Ellen Johnson Sirleaf, ex-presidente da Libéria, e da sua concidadã, a advogada Leymah Gbowee (juntamente com uma terceira mulher tenaz e corajosa, a iemenita Tawakkul Karman, líder da manifestação feminina contra o regime de Sana’a). Mas até o Prémio Nobel de Denis Mukwege em 2018 é em grande parte feminino. Foi devido ao seu empenho a favor das mulheres brutalmente violadas e abusadas nas regiões orientais da República Democrática do Congo — para destruir o tecido social e comunitário — que o médico de Bukavu recebeu o prestigioso reconhecimento.
Paz, esperança e reconciliação foram também o fio condutor da viagem do Papa Francisco no ano passado ao Quénia, Moçambique e Maurícias. O Pontífice reconheceu em várias ocasiões o importante papel desempenhado pelas mulheres no processo de cura dos horrores do passado. No entanto, nem sempre é assim. Com efeito, mesmo dentro da Igreja este trabalho crucial realizado silenciosamente pelas mulheres continua a ser pouco apreciado. Isto, apesar do facto de os documentos oficiais sublinharem repetidamente a centralidade e ineludibilidade do empenho das mulheres nestas áreas. Lê-se, por exemplo, em Africae Munus, a Exortação publicada após o Segundo Sínodo especial para África em 2009: «Quando a paz está ameaçada e a justiça é denegrida, quando cresce a pobreza [...], estais prontas para defender a dignidade humana, a família e os valores da religião» (n. 58).
É isto que experimenta durante muitos anos na sua pele — e na pele das pessoas com quem tem partilhado a sua missão — a irmã Elena Balatti, uma missionária comboniana no Sudão do Sul. Ela viveu neste país os momentos mais terríveis da guerra civil, permanecendo em Malakal, uma das cidades mais devastadas pelos confrontos também por estar localizada numa das regiões mais ricas de petróleo. Para além desta experiência dramática e persistente, especialmente com as mulheres, a Irmã Elena ensina Cura da memória na universidade católica do Sudão do Sul e é membro da Comissão Justiça e Paz das combonianas. «Não basta pôr fim às hostilidades, mesmo que esta seja uma prioridade absoluta e muito urgente — diz a missionária — depois de todos estes anos de confrontos e violência, que muitas vezes envolvem também as comunidades, põemumas contra as outras, é necessário acompanhar a população para fazer um verdadeiro caminho de reconciliação, valorizando em particular o papel das mulheres, que são as autênticas artesãs da paz».
No outro extremo de África, na Guiné-Bissau, a irmã Alessandra Bonfanti, das Missionárias da Imaculada, recorda como, no início da guerra civil em 1998, nasceu uma organização feminina, chamada Exército de paz: uma organização composta por mulheres que tinham decidido lutar para pôr fim ao conflito. Propuseram-se como mediadoras e contrastaram a força das suas ideias com a violência das armas. Diziam: «A paz é um animal estranho: por vezes esconde-se debaixo de bombas, mas estamos dispostas a ir buscá-la também lá».
Em 2013, após o último golpe de Estado, um grupo de mulheres de diferentes camadas, social, económica, intelectual e cultural, reuniu-se para realizar um estudo aprofundado da situação do país e para elaborar «uma visão feminina do processo de construção da paz. A Guiné-Bissau que queremos é um país de justiça e estabilidade», disseram. Estes exemplos, testemunhou a irmã Alessandra, «fazem-nos compreender o impacto que as mulheres podem ter no processo de paz. Mas é essencial que elas possam participar ativamente na vida social e política dos seus países. A mulher é um instrumento de reconciliação a começar pela sua família: como mãe, esposa e irmã, exerce uma forte influência na educação. Em África, graças a Deus, ainda há um coração a bater pela paz. Um coração de mulher».
Anna Pozzi









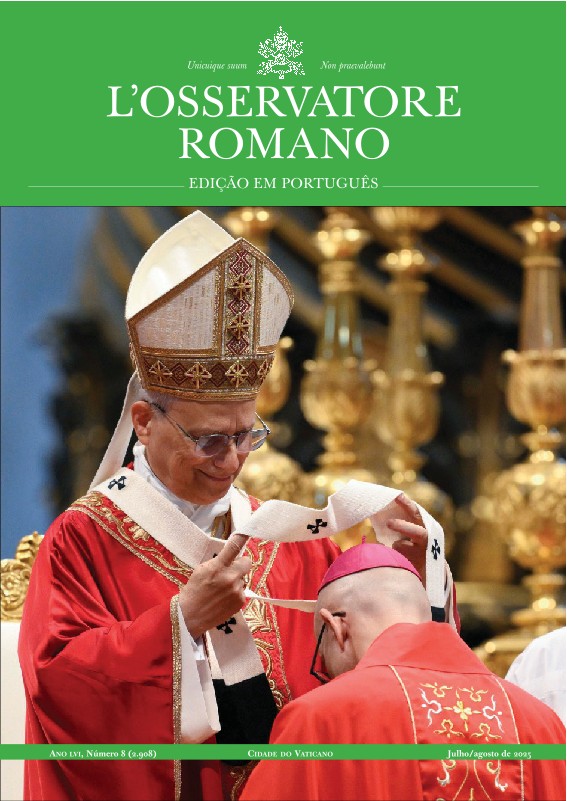



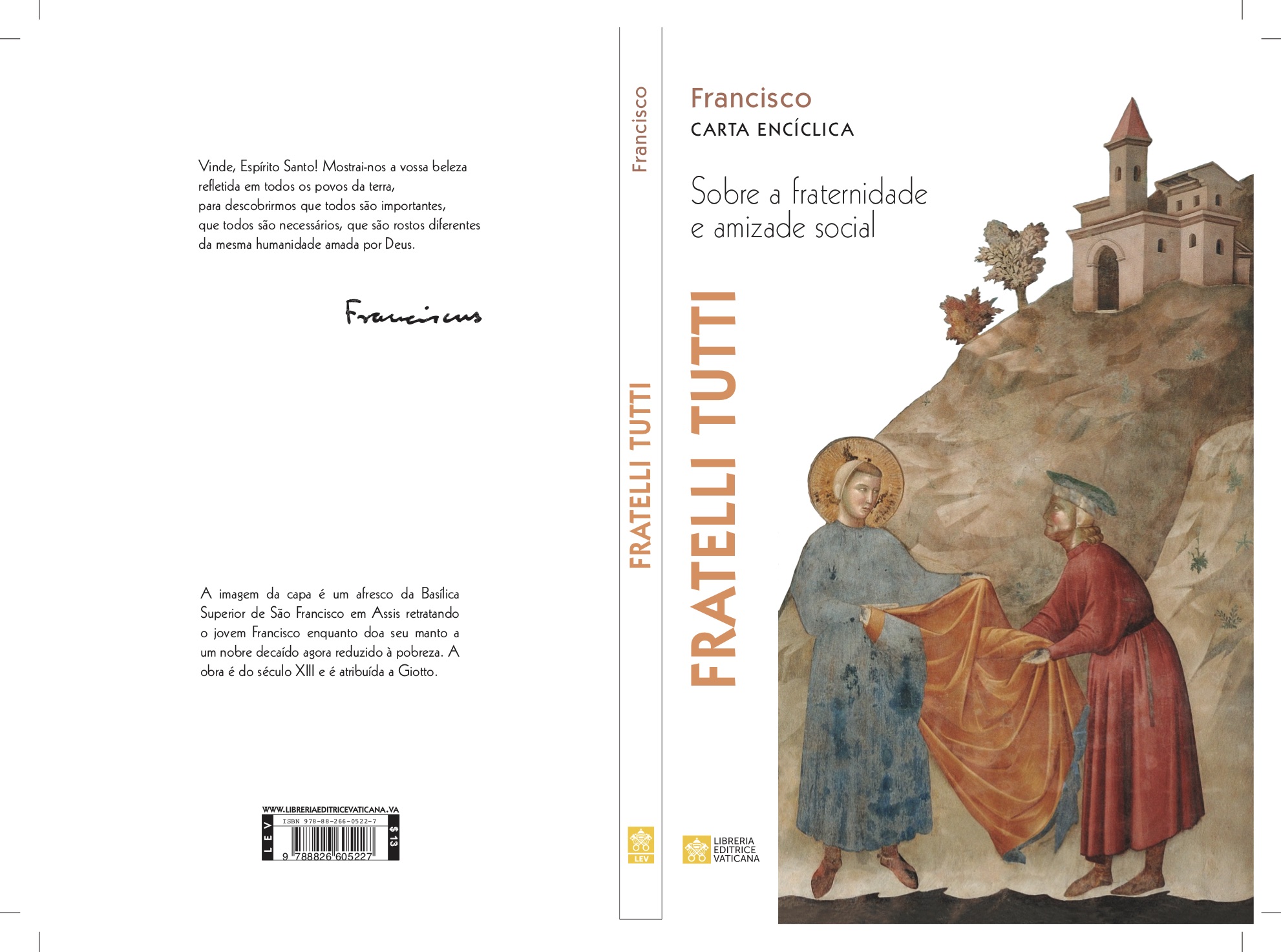 Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
