
Todos recordam o que aconteceu há cinco meses, na tarde de 27 de março, quando as sombras do crepúsculo se adensavam juntamente com as nuvens carregadas de chuva sobre a praça de São Pedro, e o Papa subia lentamente os degraus do adro para erguer a sua voz e rezar ao Deus Criador que, naqueles dias, parecia ter-se esquecido de vigiar sobre a sua criação. «Há semanas que parece o entardecer, parece cair a noite», disse Francisco. «Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades; apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor... pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos temerosos e desorientados. À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada... Demo-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis... mas ao mesmo tempo... necessários: todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E, neste barco, estamos todos. Tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizem... “vamos perecer”... assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar... cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos. A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas... seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos... e prioridades».
A mensagem era clara e sonora: não somos autossuficientes, sozinhos afundamo-nos. E depois uma abertura à esperança, com um olhar mais amplo e sobretudo mais grato: «As nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns (habitualmente esquecidas), que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos... da nossa história: médicos, enfermeiros... trabalhadores dos supermercados... curadores, transportadores, forças policiais, voluntários... religiosas que compreenderam que ninguém se salva sozinho».
Também na catequese desta audiência geral de quarta-feira, o Papa voltou a esta imagem da tempestade e mais uma vez abriu os nossos olhos à esperança: «Perante a pandemia e as suas consequências sociais, muitos correm o risco de perder a esperança. Neste tempo de incerteza e angústia, convido todos a aceitar o dom da esperança que vem de Cristo. É Ele que nos ajuda a navegar nas águas tumultuosas da doença, da morte e da injustiça, que não têm a última palavra sobre o nosso destino final». O risco não é apenas perder a esperança, mas também a razão e que o medo e a luta pela sobrevivência prevaleçam sobre o sentimento de solidariedade. Quando a tempestade se agita, o grito que se levanta é “salve-se quem puder!”, mas há um engano nesta palavrinha, o sufixo reflexivo “se”; com efeito, seria mais correto gritar “salve-me quem puder!”. Se é verdade que ninguém se salva sozinho, então a reivindicação deve dar lugar à oração. A tua vida torna-se vita mea e não mors.
Uma história autêntica, que ocorreu há cerca de meio século, demonstra esta verdade e dissipa um mito antigo, uma história que fala de uma tempestade. O economista holandês Rutger Bregman narra-a no seu ensaio Humankind. A Hopeful History (será publicado em outubro pela Feltrinelli) e foi proposta como leitura teatral por Francesco Chiamulera há alguns dias, durante o evento “Uma montanha de livros”, em Cortina d’Ampezzo: em junho de 1965, seis jovens de 13 a 16 anos, alunos do St. Andrew’s, um rigoroso colégio católico em Nuku’alofa, no Pacífico, um pouco entediados, um pouco por desejo de aventura, apoderaram-se de uma embarcação e partiram para as Ilhas Fiji, situadas a cerca de quinhentas milhas de distância. Uma tempestade surpreendeu-os e levou-os para a pequena ilha ’Ata, onde viveram durante um ano inteiro. Parece ser uma fotocópia da história contada por William Golding no seu famoso romance The Lord of the Flies que, publicado em 1954, deu imediatamente popularidade (e um prémio Nobel) ao seu autor. Se o início da história é o mesmo, o desenvolvimento e a conclusão são muito diferentes: no romance de Golding o grupo de jovens náufragos será dilacerado por guerras internas e, no final, a violência predominará causando várias vítimas, porque a natureza humana conduz inevitavelmente ao conflito e à luta pelo poder. Isto é literatura. Na realidade, a vicissitude histórica dos seis jovens de ’Ata é muito diferente, como recordou o capitão do navio que, após quinze meses, salvou os náufragos, levando-os para casa: «Os rapazes criaram uma pequena comuna com uma horta, troncos de árvores escavados para armazenar a água da chuva, um ginásio com pesos, um campo de badminton, um galinheiro e um fogo permanente, tudo graças ao trabalho manual, uma velha lâmina de faca e muita determinação». Organizados em grupos de dois, os jovens dividiram as tarefas, a primeira das quais, fundamental, foi a de manter o fogo aceso durante quinze meses. Quando havia um desentendimento, o confronto era imediatamente resolvido forçando os litigantes a ir aos extremos opostos da ilha para arrefecer o ânimo e após cerca de quatro horas todos trabalhavam juntos pela reconciliação. Os dias dos seis jovens começavam e terminavam com canções e orações, e um papel fundamental foi desempenhado pela música, graças ao “violão” moldado por um dos rapazes a partir de um pedaço de madeira flutuante, utilizando meia casca de coco e seis fios de aço recuperados do seu barco destruído. Quando um deles escorrega, caindo de um penhasco e quebra uma perna, a lógica da solidariedade prevalece sobre a da sobrevivência: a perna é engessada de modo rudimentar, com paus e folhas, e a sua parte do trabalho é redistribuída entre os outros cinco. Quando foram resgatados, no domingo 11 de setembro de 1966, os seis náufragos encontravam-se fisicamente em ótimas condições. Os quinze meses não desencadearam violência, mas amizade.
Há alguns dias o professor emérito de biologia Scott F. Gilbert, no Meeting de Comunhão e Libertação em Rímini, falou sobre o corpo humano, que na sua maravilhosa complexidade revela como a “regra” que governa o mundo natural não é o conflito mas a colaboração. A sua colega, a bióloga americana Lynn Margulis resumiu esta verdade com uma frase: «A vida não progride no mundo pela luta, mas graças a uma rede de colaborações». Portanto, poder-se-ia dizer que cada um de nós é um indivíduo único e irrepetível, mas não está sozinho: cada organismo vive sempre em simbiose com milhares de milhões de microrganismos. Dentro do nosso corpo existem cerca de 160 espécies de micróbios que desempenham funções fundamentais para o nosso crescimento. Deveríamos reler positivamente a frase do pobre endemoninhado de Gérasa: «O meu nome é Legião, porque somos muitos»; ele referia-se à rutura de uma identidade dilacerada pelo espírito maligno, mas a verdade da natureza humana na sua vida quotidiana é que um organismo vivo consiste no resultado de uma densa trama formada por um complexo e maravilhoso “trabalho de grupo”.
A conclusão do professor Gilbert vai muito além dos dados biológicos: «Os animais não existem como entidades independentes, nós “formamo-nos com os outros”. Isto é importante: para além dos dados competitivos da evolução, há também este devir com os outros». Portanto, cada um de nós já é, por si só, uma “companhia”, não é deixado sozinho na batalha da existência, porque a estrutura do seu próprio corpo já fala de uma aliança entre mil componentes, tanto invisíveis quanto indispensáveis. Tal como acontece, a nível social, graças a todas aquelas pessoas “habitualmente esquecidas”, como diz o Papa, mas que apoiam a vida dos outros e com eles o mundo inteiro. Como o Papa disse há cinco meses, repetindo na audiência geral com palavras fortes e claras: «O homo sapiens deforma-se e torna-se uma espécie de homo oeconomicus — num sentido menor — individualista, calculista e dominador. Esquecemos que, sendo criados à imagem e semelhança de Deus, somos seres sociais, criativos e solidários, com uma imensa capacidade de amar. Com frequência esquecemo-nos disto. Com efeito, somos os seres mais cooperadores entre todas as espécies, e florescemos em comunidade, como se pode ver na experiência dos santos».
Andrea Monda









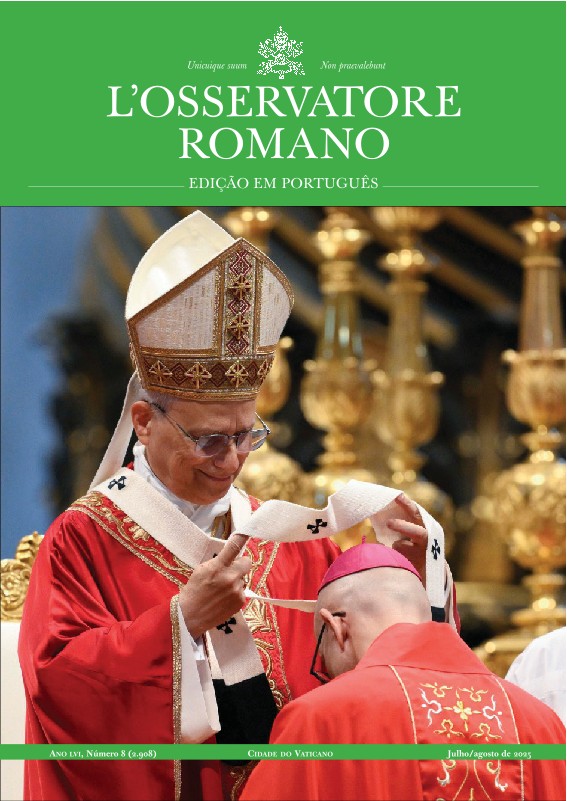



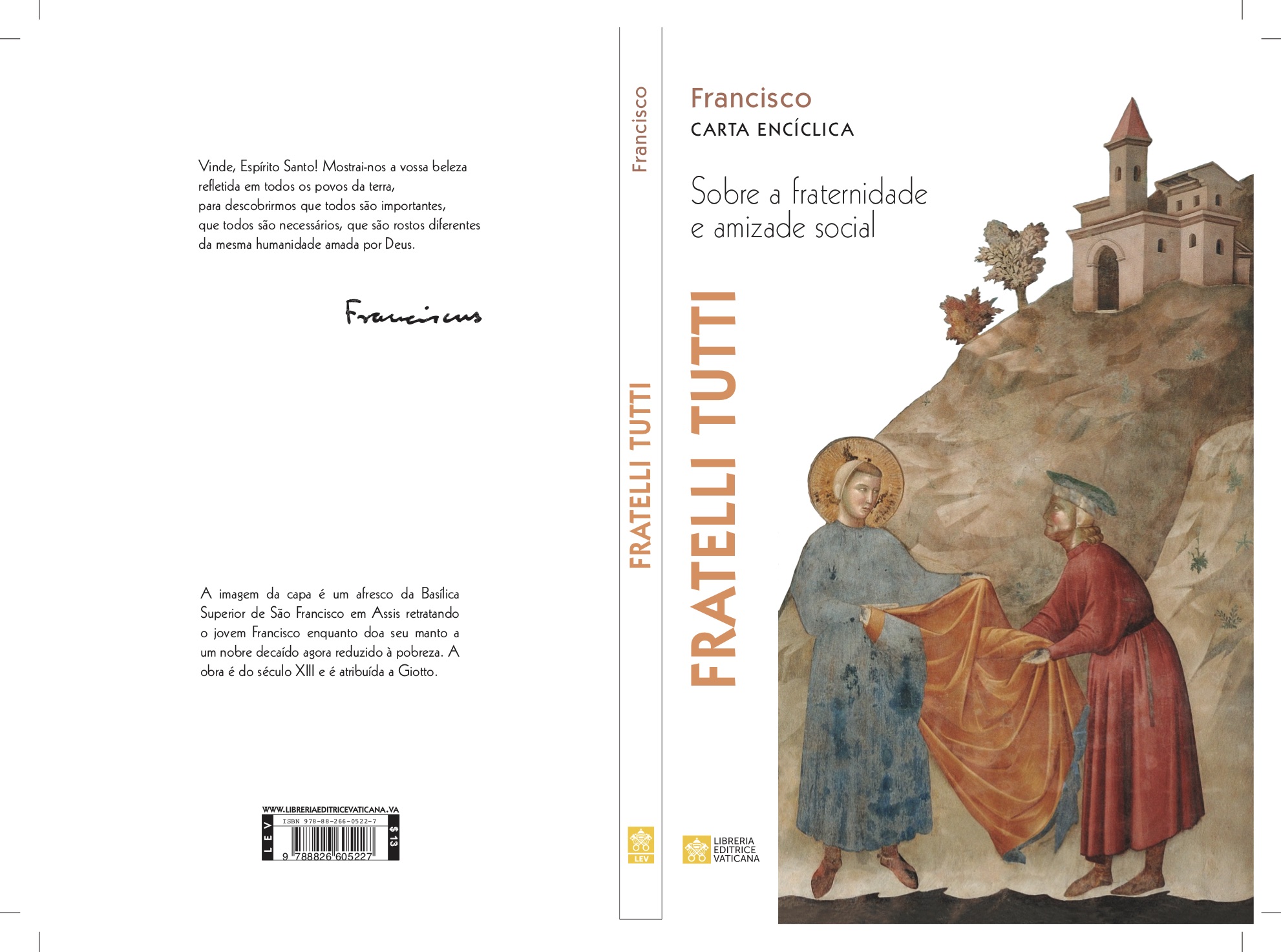 Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
