
No seu discurso por ocasião da atribuição do prémio Nobel de literatura (1998), o escritor e dramaturgo José Saramago quis prestar uma homenagem deveras carinhosa ao seu avô materno, «o homem mais sábio que já conheci, embora não soubesse ler nem escrever». Com ele, recordava ainda o romancista português, nas noites quentes de verão, algumas vezes «eu dormia debaixo de uma grande figueira e entre os ramos altos da árvore, uma estrela aparecia-me, e depois, lentamente, escondia-se por trás de uma folha». Enquanto o sono não chegava, a noite povoava-se com as histórias que o embalavam suavemente. «Um dia tinha de chegar em que contaria estas coisas. Nada disto tem importância, a não ser para mim», dizia ele, interrogando-se a que melhor “árvore” se poderia encostar.
A entrega do Nobel coincidiu com as celebrações planetárias do cinquentenário da Declaração dos direitos do homem; obviamente, o escritor aproveitou a oportunidade para recordar que «as injustiças ainda se multiplicam, as desigualdades se agravam, a ignorância cresce, a miséria se alastra» no mundo. Com efeito, a denúncia da opressão e da iniquidade que corroem o espírito humano distinguiu grande parte da sua vasta produção, na qual ele frisa frequentemente que se perdeu o sentido de solidariedade e que esta perda levou a sociedade contemporânea e as suas estruturas de poder a tornar-se profundamente míopes. Como se lê na motivação do Nobel, graças «a parábolas portadoras de imaginação, compaixão e ironia, o autor torna constantemente compreensível uma realidade fugidia».
O intenso romance Ensaio sobre a cegueira (1995) é um válido exemplo disto. Nesta obra, o escritor faz uma análise lúcida da natureza humana, descrevendo o modo como, de forma inesperada e misteriosa, um automobilista parado diante do semáforo vermelho de repente fica cego, o “paciente zero” daquela que em breve tempo se tornaria uma verdadeira epidemia, atingindo indiscriminadamente todos os habitantes de um lugar não bem determinado, com a exceção de uma única pessoa, identificada simplesmente como «a mulher do médico» (na verdade, nesta história nenhum dos personagens tem nome próprio), e provocando um cenário apocalíptico.
Com efeito, o tema central por detrás dos acontecimentos absurdos e inexplicáveis desta história é o da indiferença e do egoísmo que, com a difusão da pandemia, se tornam cada vez mais evidentes, e que o autor denuncia com veemência, como dura crítica à sociedade em geral e, em particular, a esta comunidade urbana específica, na qual a cegueira “branca” - assim chamada porque quantos são atingidos ficam como que envolvidos por um mar de leite - consegue deturpar as leis mais elementares da vida comunitária, revelando o pior que se aninha na alma humana.
Aliás, revendo a natureza da desordem que se veio a criar com o surto da doença, que afetou a população de forma tão indiscriminada e insensata, questiona-se se porventura ela não estava presente já antes que a cegueira tivesse obscurecido os olhos das pessoas, se foi a repentina escuridão que criou o caos, ou se ele se tornou “visível” precisamente por causa da cegueira.
Levando a resignada protagonista feminina a dizer: «Penso que não cegámos, penso que estamos cegos, cegos que veem. Cegos que, vendo, não veem», o autor convida o leitor à consciência e à responsabilidade de ver, enquanto muitos, infelizmente, perderam esta capacidade. Perante o egoísmo exasperado, interroga-se perplexo se todos nós devemos ser cegos para ver o outro.
Quando os personagens da história são abandonados à própria sorte, trancados num hospício onde os recursos são praticamente inexistentes, as regras sociais básicas, aprendidas ao longo do percurso da vida, esmorecem de repente. E o espaço deixado à sua criatividade, teoricamente ideal para conceber uma nova forma de comunidade mais solidária, transforma-se pouco a pouco, revelando ao contrário os impulsos mais primitivos do ser humano. Em pouco tempo, a única lei será a do mais forte sobre o mais fraco, em que poucos tornam impossível a vida da maioria, desanimada e indefesa. Um mundo do qual a solidariedade é completamente banida, onde o homem chega a anular a própria evolução biológica, cultural e comunitária. Nas garras do medo do outro, somente a luta pela sobrevivência parece mantê-lo vivo.
Partidário convicto do pessimismo antropológico, mas profundo conhecedor do espírito humano, o autor afirma «que nós não somos bons, e é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso», se quisermos aspirar ao restabelecimento, e que a nossa reação em situações de impotência e abandono pode tornar-se impiedosa e perder qualquer sombra de objetividade, levando-nos ao verdadeiro desprezo pelo outro.
No final do período de confinamento, quando a mulher do médico deixa o lazareto (onde tinha entrado fingindo ser cega para salvar o marido) e enfrenta o seu destino, compreende que tudo o que acontecera não melhorou minimamente a espécie humana. Pelo contrário, o mundo dos cegos tristemente abriu o caminho para o mundo dos bárbaros.
Entrando numa igreja, depara-se com um cenário que a deixa indignada. Todos os Santos estão vendados, e até Cristo na cruz, como se se quisesse afirmar que o próprio Deus já não merece ver: «Se os céus não veem, que ninguém veja». Na verdade, é o homem que, sentindo-se abandonado ao seu trágico destino, não quer ser visto e culpa Aquele que, na sua opinião, não foi capaz de o salvar.
Não obstante a sua visão distópica do mundo, esta história pode fazer-nos refletir sobre os comportamentos humanos, especialmente nos momentos mais complexos e imprevisíveis da vida, se não quisermos mergulhar no absurdo. Ainda se pode esperar que para as trevas da razão haja um remédio eficaz, ou seja, o da compaixão. Um antídoto seguro contra a indiferença, o único que nos pode levar da cegueira e dureza de coração ao respeito pelo outro, matéria-prima fundamental para a construção da civilização do amor. Talvez semelhante àquela que povoava os sonhos do autor que, quando era criança, adormecia feliz com o seu avô debaixo de uma grande figueira.
Sérgio Suchodolak
Por detrás dos acontecimentos mais díspares
Nascido na pequena aldeia de Azinhaga, em Portugal, a 16 de novembro de 1922, José Saramago faleceu nas Ilhas Canárias, no dia 18 de junho de há dez anos. Inicialmente dedicou-se à atividade de tradutor e de crítico literário, publicando uma coleção de poemas e vários textos teatrais, romances e contos. A apreciação da crítica chegou em 1982, com Memorial do convento e, sucessivamente, com O ano da morte de Ricardo Reis, mas o verdadeiro sucesso internacional veio aproximadamente uma década mais tarde, com o controverso Evangelho segundo Jesus Cristo e Ensaio sobre a cegueira, que em 1998 lhe valeram o prémio Nobel da literatura. José Saramago continuou a escrever até aos últimos anos de vida, assinando obras de grande relevância, como Todos os nomes, As intermitências da morte e Caim, seu último romance. Não obstante o pessimismo de que muitas das suas obras estão imbuídas, prestando-se a vários níveis de leitura, no décimo aniversário da sua morte preferimos recordá-lo como um autor que, no entanto, procurou destacar o fator humano que se esconde por detrás dos acontecimentos mais díspares. Para Saramago não existem heróis, mas unicamente homens, com as suas virtudes e os seus defeitos, no fundo simples porta-vozes da raça humana, dignos de uma compaixão que no Ensaio sobre a cegueira é bem expressa com as seguintes palavras: «Ser um fantasma deve ser isto, ter a certeza de que a vida existe, porque quatro sentidos o dizem, e não a poder ver». (sérgio suchodolak)









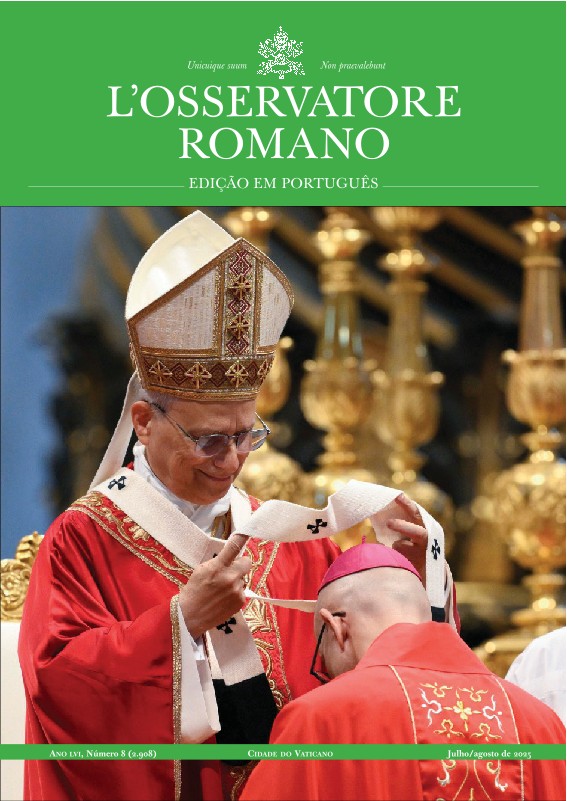



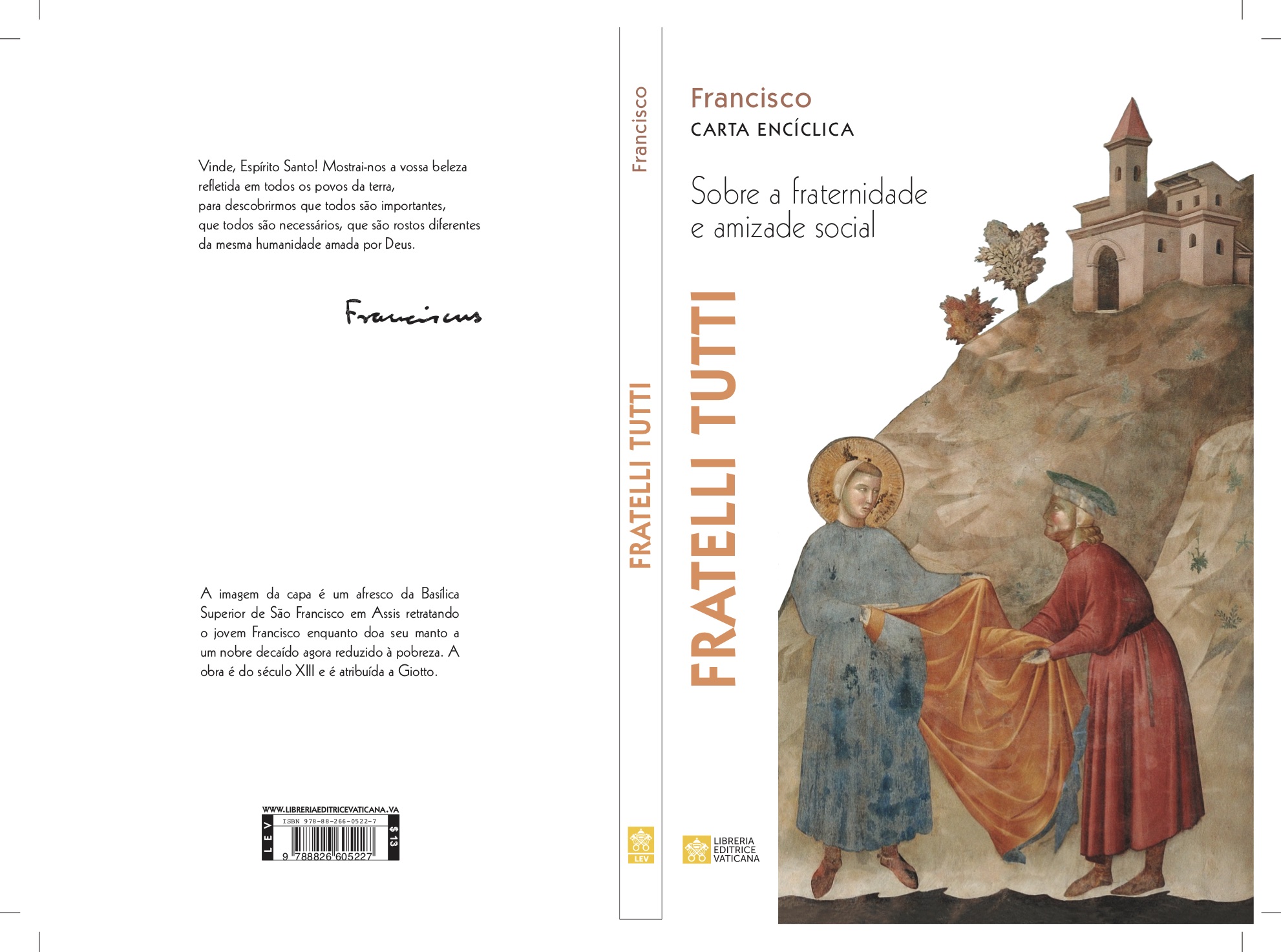 Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
