
Quando Jean Giono decidiu narrar a história de um pastor invulgar que, numa desolada região dos Baixos Alpes franceses, tinha resolvido plantar tantas sementes de árvores quantas fossem necessárias para dar nova vida à paisagem local, transformando-a radicalmente, talvez nunca tivesse suspeitado que esta história simples, dócil e até inocente no seu estilo narrativo, pudesse obter um notável sucesso literário, impressionando de forma tão manifesta e incisiva o imaginário coletivo e tornando-se mais relevante do que nunca até nos nossos dias — quase setenta anos após a sua redação — entretanto profundamente alterados sob a ótica do clima e não só, chegando a fazer-nos crer que estamos verdadeiramente num ponto de não retorno.
A pobreza do solo de uma grande parte do departamento em questão e a sua altitude representavam as condições mais desfavoráveis para o crescimento das aldeias locais e até para o desenvolvimento normal da vida humana, motivos pelos quais se encontrava entre as regiões menos povoadas e menos ricas de todo o país transalpino onde, especialmente durante o inverno, a paisagem podia parecer quase fantasmagórica. É neste cenário que tem lugar um dos diálogos mais significativos, simples e ao mesmo tempo profundos entre o homem e a natureza — originado da pena de um escritor e ensaísta prolífico, diversificado e muitas vezes mordaz, sensível, autodidata, dotado de uma cultura imensa e de uma curiosidade praticamente universal, que o levará a ler sozinho a Bíblia e Homero — que ressoa como um veemente apelo a contrastar com o bom senso e a poesia um mundo cada vez mais indiferente à salvaguarda do território e do meio ambiente. Na sua obra, às vezes Giono chega a ostentar uma espécie de misticismo cósmico, mas desprovido de transcendência, talvez seguindo o sulco do pensamento filosófico espinosiano que está na base do Deus sive natura, o qual exalta uma certa identidade entre Deus e a natureza.
Naquelas terras desabitadas, pedregosas e áridas, onde a única vegetação que crescia era a lavanda selvagem e onde «o vento soprava com brutalidade insuportável», praticamente esquecido pelo homem e por Deus, retirado do mundo e da companhia dos seus semelhantes, um humilde pastor vivia lentamente e em completa solidão — entendida, no entanto, mais como condição acidental do que como sentimento humano, uma vez que a seu ver não se sentia só — e aí passava os longos dias com o seu cão, primeiro protegendo o seu rebanho e anos mais tarde cuidando das suas colmeias, abstraído da vida fora do seu universo e do horizonte que necessariamente o delimitava. A história passa-se entre os dois terríveis conflitos mundiais.
O protagonista da narração, um certo Elzéard Bouffier, precisamente “O homem que plantava árvores” (L’homme qui plantait des arbres, 1953), sem visar qualquer lucro pessoal e no anonimato mais absoluto, torna-se gradualmente para o leitor a personificação de uma incomparável mensagem de amor à natureza, que nasce do profundo respeito que o ser humano é chamado a nutrir para com a mãe terra e as belezas que a adornam. Além disso, percebe-se imediatamente que, apesar da pobreza dos meios à sua disposição e da máxima sobriedade em que passa os seus dias aparentemente tão monótonos, o pastor tem uma personalidade verdadeiramente extraordinária, uma vez que todo o seu inspirado trabalho escondido se revela totalmente desprovido de qualquer forma de egoísmo, num clima de grande agrestia que, pelo contrário, tenderia a exasperar o individualismo.
De onde poderia ter derivado esta união especial entre a simplicidade da sua conduta e a grandeza do seu espírito, a não ser exatamente da sua perspicaz intuição interior em relação à natureza, como parte indispensável de si mesmo, sem a qual ele próprio tinha a impressão de não ser capaz de sentir nem sequer um pequeno vislumbre de felicidade. Sim, a felicidade, pois no íntimo a busca deste particular estado de espírito não pode ser negada a ninguém.
Assim, partindo de uma simples bolota de carvalho, de uma semente de faia ou de bétula, com o desejo de reverdecer o seu mundo, apoderou-se do pastor uma espécie de projeção ideal de reflorestação, a princípio dir-se-ia de maneira um pouco fantasiosa mas em seguida cada vez mais realista, a ponto de o impelir a ver naquelas plantas o único recurso real, capaz de redimir toda aquela área de uma degradação intolerável que não cessava de a minar.
Nas mais diferentes culturas, a árvore foi desde sempre um símbolo de vida e sabedoria, e portanto não é exceção neste conto, descrito com grande perspicácia sensorial por um escritor que já na vibrante “Carta aos camponeses sobre a pobreza e a paz” (Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix, publicada em 1938, nas vésperas da segunda guerra mundial, para procurar evitar o cancelamento da cultura e da sensatez típicas do mundo rural), deixava entrever de forma límpida e poética, um impetuoso pensamento moral, segundo o qual a natureza é sempre superior à tecnologia e, por conseguinte, o homem só pode ser salvo através do trabalho levado a cabo em estreita harmonia com a terra.
Esta comovedora e edificante parábola pastoral, que exalta com extrema simplicidade a necessidade e a beleza da relação entre o homem e a natureza, contudo sem cair em falsos mitos românticos nem em idealismos irracionais, levou muitos a reconhecer na voz do narrador um apelo urgente, como um profundo sulco no chão, a ver na imensa obra que brotou das mãos e da alma daquele homem sem meios técnicos, que «os homens poderiam ser tão eficazes como Deus em algo mais que a destruição». E foi assim que, ao longo dos anos, onde havia um deserto germinou um jardim exuberante e em toda aquela região as aldeias e a própria vida começaram a florescer novamente.
Se é verdade que na mente e nas mãos o homem tem não só o poder de destruir, mas antes de tudo de procurar construir a felicidade, sua e dos outros, este escrito de Giono é mais atual e providencial do que nunca, ao mesmo tempo que nos exorta ao sonho de poder viver hoje e amanhã num planeta mais respeitado, mais cuidado e mais amado, e por conseguinte à transformação do sonho em esperança, e da esperança em realidade. Parafraseando a descrição com que é frequentemente apresentado o patriarca Noé, protagonista exemplar da narração bíblica do dilúvio universal, às vezes “é suficiente um homem bom para que haja esperança”. E não foi por acaso que, depois de ter lido a pequena e comovente história deste “homem bom” dos nossos tempos, o escritor José Saramago não hesitou em introduzi-la com as seguintes palavras: «Só quem cavou a terra para acomodar uma raiz ou a sua esperança poderia ter escrito este livro. Estamos realmente à espera da chegada de um grande número de Elzéard Bouffier reais. Antes que seja demasiado tarde para o mundo».
Sérgio Suchodolak









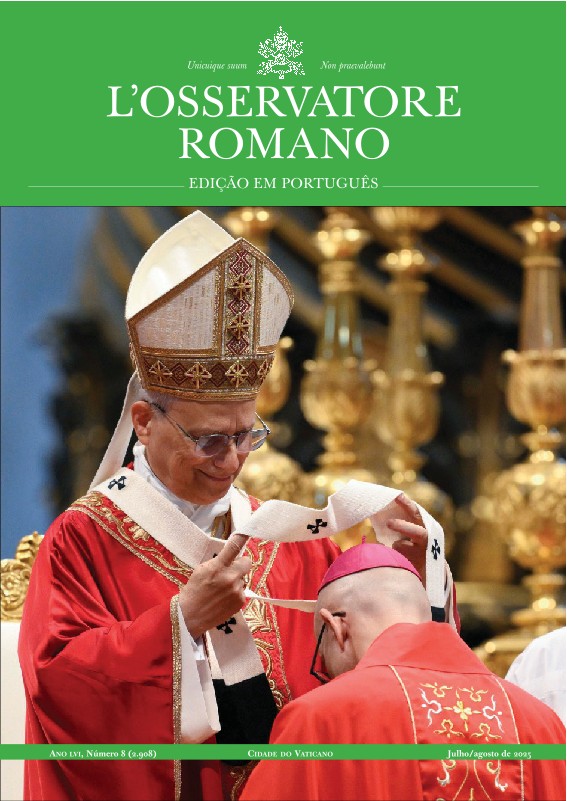



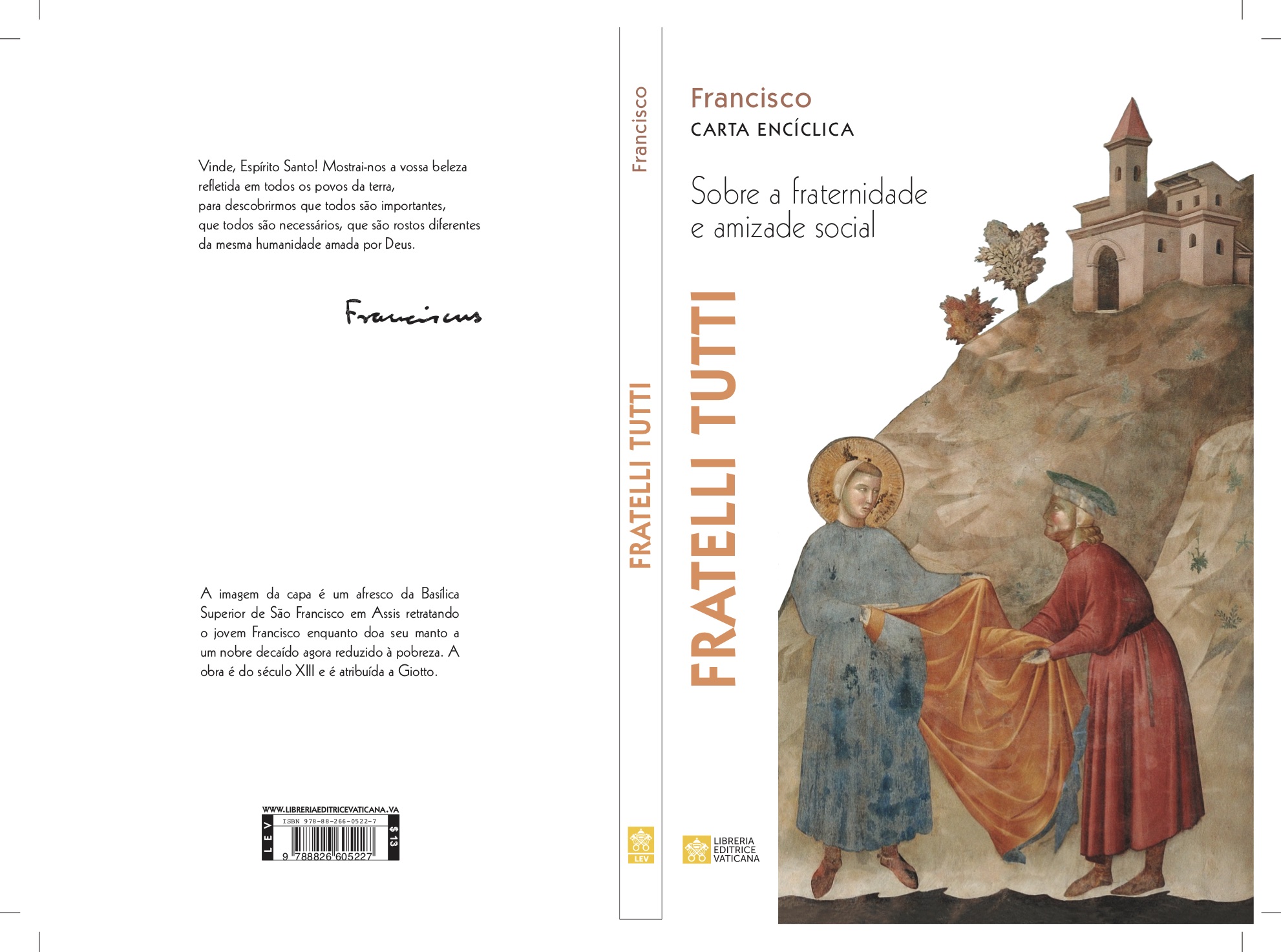 Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
