
Oração e intercessão. Permanecer, apesar de tudo, no meio das partes em conflito, para testemunhar o anúncio pascal e a consciência de que o mal já foi vencido. É o que sobressai das palavras do padre Francesco Patton, guardião da Terra Santa, nesta entrevista aos meios de comunicação do Vaticano.
Padre Francesco, que ar se respira nestes dias em Jerusalém?
Desde o dia 7 de outubro respira-se um ar muito pesado, pois é como se no Estado de Israel se tivesse interrompido o equilíbrio entre o componente judaico-israelita e o componente árabe-palestiniano-israelita. E também o equilíbrio que existia entre Israel e a Cisjordânia: havia a possibilidade de ir e vir, sem grandes problemas, e também para os palestinianos da Cisjordânia era muito fácil ir trabalhar. Podia-se sair de Gaza para trabalhar nos kibutzim vizinhos. Era possível sair para receber tratamentos em Jerusalém com terapias que não eram administradas em Gaza. Após o ataque de 7 de outubro, todos estes equilíbrios foram interrompidos. Agora, no próprio Estado de Israel, o componente judaico-israelita começou a olhar com desconfiança para o componente árabe-israelita, e o componente árabe-israelita começou a sentir-se cada vez mais inseguro, até no local de trabalho e na vida quotidiana, na rua. Vários dos nossos cristãos disseram-me: «Quando caminho pela cidade, em Jerusalém, evito falar árabe». Isto diz muito sobre o clima que se criou.
Como vive a tragédia dos reféns raptados pelo Hamas?
A situação dos reféns colocou uma pressão sobre estas famílias que são quase todas — com raras exceções — muito abertas: não eram famílias hostis ao componente palestiniano em Israel ou na Cisjordânia, pelo contrário. O seu sofrimento foi e continua a ser terrível, pois faz-se uma triste contagem decrescente para saber quantos ainda estão vivos.
E a propósito da tragédia de Gaza?
O componente palestiniano sente-se obviamente solidário com Gaza: pertencem ao mesmo povo e sofrem ao ver tanta destruição: 35.000 mortos, dos quais provavelmente mais de 15.000 são crianças, e não sabemos quantos estão ainda debaixo dos escombros... Destruição sistemática. Isto criou um sentimento de frustração, de raiva, um conflito interior. Depois, não esqueçamos que até há cristãos, sobretudo da Galileia, que fazem parte do exército, que combate em Gaza. Há um mal-estar e uma grande dificuldade em abordar estas questões também para nós, cristãos da Terra Santa, pois conhecemos muito bem o sofrimento que há em ambos os lados. Temos consciência das razões e dos erros de um lado e do outro. Queremos que esta guerra termine, caso contrário, o sulco do ódio torna-se cada vez mais profundo, e voltar a unir as peças depois será muito difícil.
Nos últimos meses, assistimos também a uma escalada de ações violentas por parte dos colonos.
Na Cisjordânia, assistimos a uma escalada sem precedentes: se antes as suas ações eram um pouco mais controladas, durante estes seis meses já não é assim. Sabemos também que vários milhares de palestinianos na Cisjordânia foram presos em regime de detenção administrativa: ou seja, essencialmente sem direitos. E há também várias centenas de palestinianos que foram mortos na Cisjordânia, no decurso de operações militares, por colonos ou outros, e portanto não em circunstâncias relacionadas com atentados, ataques ou, em todo o caso, ações violentas, mas também na vida normal: agricultores que foram apanhar azeitonas e encontraram colonos que dispararam contra eles. Será preciso muito tempo para superar este tipo de ferida, porque a dimensão emocional deste conflito é muito forte.
Voltando ao dia 7 de outubro: que explicação se pode dar para o que aconteceu?
O que aconteceu em 7 de outubro deverá ser estudado e investigado em profundidade, pois os próprios jornais israelitas acusaram tanto o governo como o exército de ignorar documentos que os serviços secretos do exército tinham fornecido e que falavam de uma possível operação deste tipo por parte do Hamas e de sinais nos dias imediatamente precedentes. Penso que é do próprio interesse de Israel esclarecer isto.
As consequências deste hediondo ataque terrorista contra civis são o que vemos, nomeadamente a carnificina em Gaza...
A reação foi tão forte precisamente porque houve um choque. Até do ponto de vista das escolhas militares, parece ter prevalecido a dimensão mais emocional, o desejo de reafirmar uma forma de supremacia militar, de consolidar uma dissuasão que foi de certa forma desafiada e questionada. Entende-se a vontade de dizer: «No futuro, ninguém se atreverá a fazer algo semelhante».
São acontecimentos que deixam um rasto de ódio. Para reconstruir casas, a ajuda financeira é suficiente; para reconstruir a paz no coração, é necessário muito mais tempo.
As feridas permanecerão por muito tempo; para ser curadas, precisarão de uma liderança iluminada, de ambos os lados, que saiba trabalhar pela reconciliação. No século xx , foram travadas duas guerras mundiais na Europa, com milhões de mortos. Mas depois, em vez de lutar pelos recursos, partilharam-nos: foi este o grande golpe de génio de Schuman, De Gasperi e Adenauer, quando decidiram criar a Comunidade do carvão e do aço. Foi um caminho que garantiu à Europa uma época de paz. Neste momento, não vejo a possibilidade de fazer algo semelhante em Israel e na Palestina, porque não partilham o mesmo quadro cultural. No bem e no mal, até meados do século xx a Europa era um continente que remetia para os valores cristãos e, portanto, também para os valores da reconciliação, da paz, da cooperação e outros. Agora estamos perante culturas que não dialogam muito entre elas.
O que pensa dos “Acordos de Abraão”?
Via-os de modo positivo: países que estavam em posições diferentes por razões ideológicas começaram a cooperar, embora por interesses financeiros ou defensivos. Para mim, foi um primeiro passo e pensei que, uma vez concluídos os Acordos de Abraão, seria necessário abordar politicamente a questão palestiniana. Ao contrário, no momento em que um acordo com a Arábia Saudita estava também na reta final, ocorreu o atentado de 7 de outubro. Uma operação que não só sabotou os Acordos de Abraão, como também dificultou ainda mais a abordagem política da questão palestiniana. E, ao mesmo tempo, tornou isto necessário.
Com efeito, até quantos consideravam ultrapassada a hipótese de dois Estados agora voltam àquela que sempre foi a posição da Santa Sé.
É certamente mais difícil agora do que era há dez ou vinte anos. Mas, ao mesmo tempo, agora existe uma consciência de que a questão palestiniana deve ter uma solução política. E, portanto, o regresso à teoria de dois Estados está ligado também à constatação de que neste momento não me parece plausível pensar num Estado único. A forma de criar concretamente o segundo Estado, o Estado da Palestina — porque já existe um, o de Israel — precisa certamente da contribuição, em primeiro lugar, de quantos estão diretamente envolvidos, ou seja, os palestinianos. Não se pode fazer o Estado da Palestina sobre a pele dos Palestinianos, porque essa operação já foi feita no passado e não funcionou. Eles devem ser envolvidos. Depois, é necessário que os países mais influentes — in primis os Estados Unidos, mas também os países árabes do Golfo — ajudem a encontrar a forma correta. Os problemas, como sabemos, têm solução. A seu tempo, Sharon, quando decidiu a retirada dos colonos de Gaza, também foi capaz de a pôr em prática.
Como é possível hoje uma hipótese deste tipo?
Na Cisjordânia, se o Estado de Israel aceitar a solução de dois Estados, deverá optar pela retirada dos colonos ou pela integração dos colonos num Estado palestiniano, tal como em Israel existe um componente de língua árabe no Estado judaico, ou estudar outra forma. Sabemos que há muitos tipos de modelos de Estado, há alguns em que se preveem regiões autónomas. Não se trata de algo que pode ser feito em poucos meses, mas também não pode ser deixado à indeterminação das calendas gregas. Para dar também esperança aos palestinianos, devemos fixar igualmente uma data certa para que esse Estado comece a existir e, consequentemente, devemos estabelecer um roteiro. Sem dúvida, em primeiro lugar, a guerra deve acabar, também com o apoio internacional, pois aqueles que vivem na Cisjordânia, e mais ainda quantos vivem em Gaza, encontram-se em dificuldades inimagináveis.
Como vivem os cristãos esta situação?
Os cristãos são uma realidade muito diferenciada no seu interior. Por um lado, sentem que pertencem a um povo, por outro, sentem também, como cristãos, que são chamados a ir além de uma visão étnica. Os cristãos sofrem muito neste momento pois encontram-se no meio e são puxados por ambos os lados. Há pessoas de ambas as partes que gostariam que os cristãos assumissem uma posição unilateral. Os cristãos procuram ser mulheres e homens de paz e, em geral, os cristãos da Terra Santa são — ouso dizer — o componente culturalmente mais pacífico e, por conseguinte, aquele que, de certa forma, poderia contribuir, no futuro, para esse caminho de reconciliação de que falávamos. No entanto, sentem-se frustrados porque, muitas vezes, além das declarações oficiais e das declarações com fins de marketing político, são considerados pelo mundo judeu como simples árabes e pelo mundo árabe como não suficientemente árabes enquanto cristãos. Neste momento, voltou o desejo de emigrar. Dos que vivem em Gaza, penso que poucos ficarão, o que é uma lástima, pois Gaza está nos Atos dos Apóstolos, é um dos lugares onde o monaquismo floresceu nos primeiros séculos. Até na Cisjordânia, muitos pensam em partir. Mas o mais surpreendente é que até na Galileia, por causa do crime organizado local, muitos pensam em emigrar.
O que significa, perante tudo isto, acreditar na Ressurreição?
Em primeiro lugar, o cristão acredita na mensagem da Ressurreição, mas sabe que o tempo da história ainda não é o tempo da comunhão plena de todos os povos na Jerusalém celeste. Ainda estamos numa fase intermédia, o tempo da história é ainda um tempo de tensões: assim é descrito nos Evangelhos, e assim é descrito nas Cartas de Paulo, e também no texto maravilhoso que é o Apocalipse, que descreve o confronto na história entre aqueles que seguem o Cordeiro imolado e quantos seguem outras lógicas e fazem de tudo um mercado, chegando até a comprar e vender vidas humanas. O que devemos manter vivo neste campo de batalha que é a história, é a esperança certa que vem da constatação de que Cristo já venceu o mal e a morte com a sua Ressurreição. Ser cristão na Terra Santa representa uma vocação especial. Aqui, os cristãos estão intimamente ligados à dimensão histórica da revelação e da Encarnação. Poucos ou muitos que sejam, não importa, mas é essencial que os cristãos da Terra Santa ajudem sempre toda a Igreja a recordar a dimensão histórica do cristianismo, que é uma dimensão muito importante para evitar que o cristianismo se dissolva em tipos de gnosticismo ou em formas de religiões de mitos.
Depois do atentado contra os Estados Unidos, a 11 de setembro, na sua Mensagem para o dia da paz de 2002, João Paulo ii escreveu: «Não há paz sem justiça, não há justiça sem perdão». Qual a importância da reconciliação e do perdão?
A reconciliação é fundamental. Penso que esta é, absolutamente, a mais importante mensagem para o Dia da paz jamais proferida por um Pontífice. E está ao lado da encíclica Pacem in terris, de João xxiii , que enumera quatro pilares para a construção da paz: justiça, verdade, caridade e liberdade. A reconciliação, como afirma o Papa Francisco na encíclica Fratelli tutti, tem uma dimensão não só de justiça, mas também de verdade. Por isso, para poder percorrer um caminho de reconciliação, é necessário saber chamar as coisas pelo seu nome. O mesmo é válido para o perdão. O perdão não é uma amnistia, nem o fingimento de que nada aconteceu. Perdoar é assumir todas as consequências negativas, de sofrimento, de maldade, que o mal produz. Quando pensamos no perdão, pensamos em Cristo na cruz, a partir da cruz, que perdoa. Para poder perdoar, devo aceitar esse tipo de sofrimento que me permite não reagir. À bofetada, como Jesus na hora da Paixão, não respondo com outra bofetada.
Como se pode traçar um caminho como este na Terra Santa?
Será muito longo, porque para nós, cristãos, a reconciliação é universal, diz respeito a todos. O mundo judaico e o mundo muçulmano têm a categoria da reconciliação, mas ela é aplicada sobretudo no seio da própria comunidade. Por isso, mais uma vez, a presença dos cristãos torna-se fundamental, porque nos leva a superar tanto o horizonte étnico como o horizonte da nossa própria comunidade religiosa. E os cristãos devem também estar dispostos a pagar um preço de sofrimento por isso. Não podemos exigir isto a todos, por isso compreendo aqueles que não conseguem aguentar mais e deixam o país, como aconteceu no Iraque, na Síria, no Líbano, porque temem pela sua vida ou pela vida das suas famílias. Ao mesmo tempo, quando me perguntam, sobretudo dos jovens, porque ficar, respondo: «O vosso país, sem a presença cristã, será melhor ou pior?». A resposta que me dão é sempre: «Será pior». Quantos ficam, sabem que devem pagar um preço: o preço de ser fiéis a Cristo e também de dar a vida, no sentido em que, no fim, é isto que acontece.
Nestes meses, o que significa ser guardião da Terra Santa?
A abordagem da realidade mudou. Antes de 7 de outubro, eu pensava que era possível progredir lentamente e fazer crescer as iniciativas de diálogo que foram iniciadas tanto do lado do mundo judaico-israelita como do lado do mundo muçulmano, especialmente, neste último caso, nas escolas. Nestes seis meses, constatei que muitas das iniciativas lançadas ficaram de certa forma “congeladas”, o que me leva a dizer que é preciso ter paciência no sentido de daber esperar o momento em que será possível reiniciá-las. Depois senti muito mais importante o serviço da oração, o valor da intercessão: trata-se de caminhar entre duas realidades, pedindo a Deus que de alguma forma as faça encontrar. Falamos muitas vezes com o patriarca Pizzaballa, e compreendemos também que nesta realidade não é apenas a vontade humana que está em jogo, mas há um mistério do mal em ação. Por isso, sinto ainda mais esta necessidade de rezar. Por fim, procurei encorajar os irmãos, em primeiro lugar, e depois as pessoas, a manter viva a esperança.
Diante do que acontece, é fácil ser pessimista...
O pessimismo é falta de fé. Deixar-se devorar pelo pessimismo significa não acreditar no poder da Páscoa. Acredito no poder da Páscoa: acredito que Cristo venceu verdadeiramente o mal e a morte, e creio que quantos hoje procuram resolver os problemas de uma certa maneira já perderam. Sei que aqueles que optam por usar a violência de alguma forma já perderam. Pois Cristo, que morreu e ressuscitou, diz-nos que a perspetiva para viver e enfrentar os problemas é outra.
Sentistes-vos apoiados nestes meses de guerra?
Tantas pessoas mostram proximidade, escrevem-nos para nos dizer que se lembram de nós, que rezam por nós. Sentimo-nos muito apoiados, sempre, pelo Papa, porque ele nunca deixou de falar da paz, não obstante se trate de um tema impopular, mesmo sabendo que é um tema incompreendido. E referiu-se sempre à Palestina, a Israel, à Terra Santa... Disse mais do que uma vez que somos, sob certos aspetos, privilegiados, porque há muitas outras realidades que sofrem e não são recordadas como nós. Além disso, somos muito apoiados também pela nossa Ordem. Portanto, diria que, de maneira geral, sinto o apoio. O que precisaremos nos próximos tempos, além da proximidade, será também um apoio concreto para ajudar os cristãos e a população local perante as dificuldades económicas que a guerra trouxe.
Andrea Tornielli












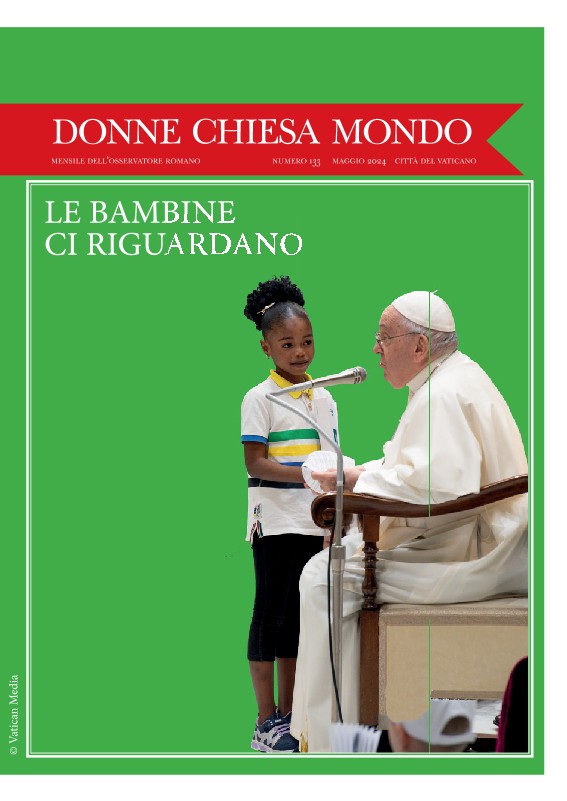
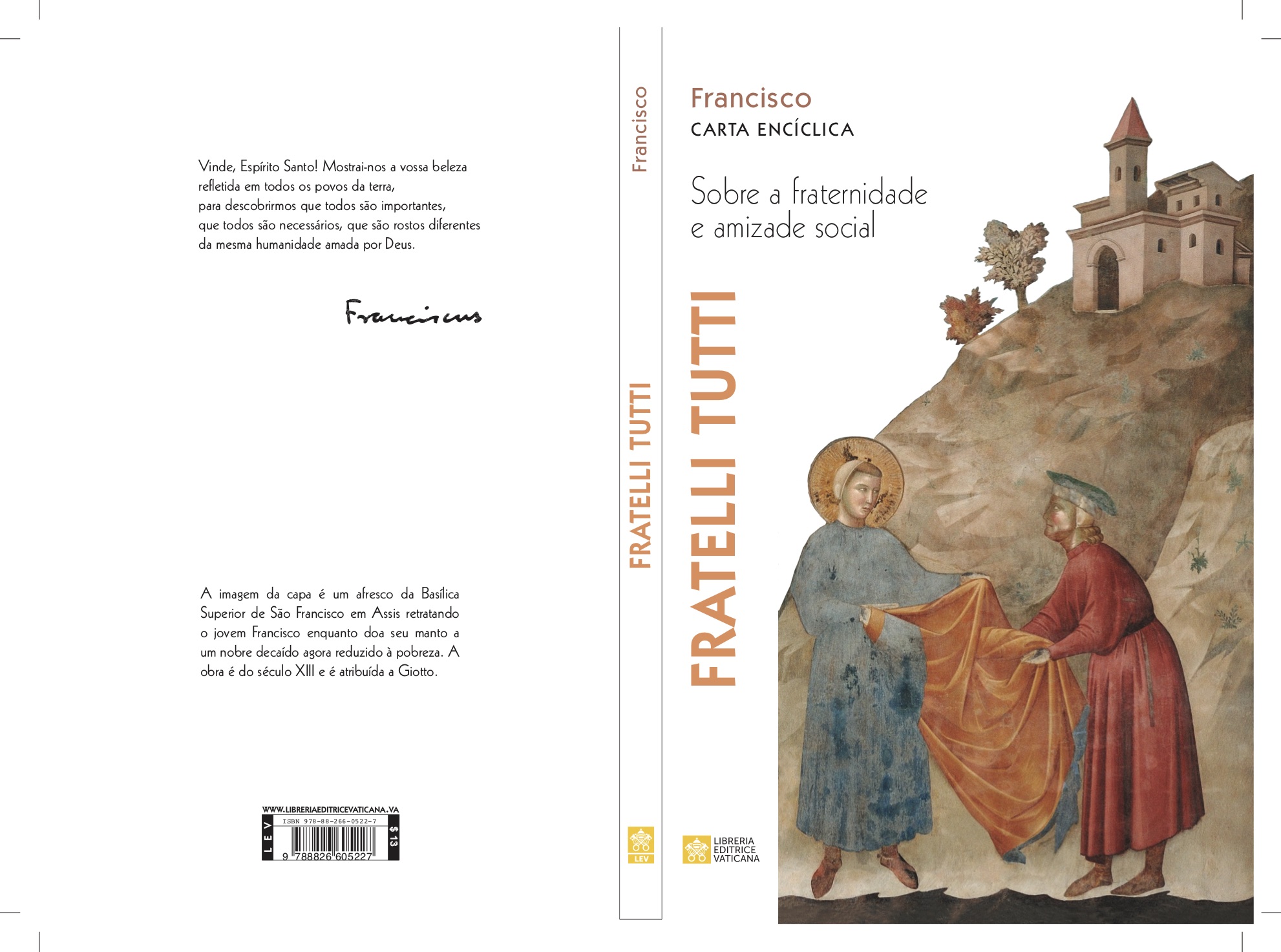 Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti
